Bubble (Bubble), de Steven Soderbergh
(EUA, 2006)
por Eduardo Valente
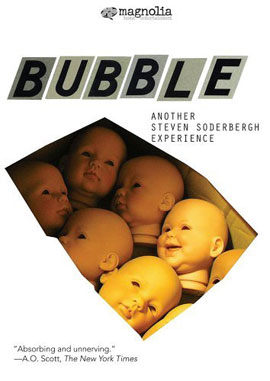
Artifícios do real
Steven Soderbergh é um autêntico animal cinematográfico,
em todos os sentidos. Basta pensar que, enquanto Bubble
é lançado mundialmente, ele já está envolvido em três outros projetos
(um já filmado, o thriller histórico baseado no livro O bom
alemão; um, prestes a começar – a terceira parte da série
Onze/Doze Homens e um Segredo; e Guerrilla, filmado
em espanhol, com algumas imagens já feitas e a ser terminado em
2007, sobre a participação de Che Guevara na Revolução Cubana).
Ah, sim: estes três filmes não fazem parte da conta dos cinco
outros filmes em alta definição que ele deve fazer nos próximos
quatro anos dentro do mesmo contrato que deu à luz Bubble
– ufa, cansa só de escrever.
Mas, Soderbergh é mais do que apenas um workaholic
que não consegue parar de filmar: a outra característica que marca
seu cinema é uma completa inquietude formal, que parece fazer
com que ele sinta a necessidade de experimentar todos os cinemas
no seu próprio cinema, tornando sua principal marca autoral a
ausência de um estilo definido. Ou talvez fosse melhor definir
diferentemente: sua marca autoral é ser um cineasta apaixonado
pelo cinema e suas formas de narrar, antes de qualquer outra coisa.
E um cineasta que tem a necessidade de expressas esta paixão tanto
de forma prolixa quanto sem cair nunca na rotina da realização.
No seu caso, as idas e vindas entre filmes de estúdio e produções
independentes parecem menos fruto de uma contingência eventual
de produção do que uma necessidade pessoal de manter-se em movimento,
de nunca ficar parado, confortável.
Alguns mais maldosos diriam que este movimento
constante indica também uma incapacidade de se concentrar – e
não estariam errados. Bubble, neste sentido, é um filme
essencialmente soderberghiano. Se, por um lado, sua maior
força advém justamente da incrível capacidade do diretor de “falar
cinema” (seus enquadramentos e trabalhos espaciais no filme, assim
como o jogo de seus atores/não-atores, nunca são menos do que
intrigantes), sua maior fraqueza se revela sempre que a forma
parece se acomodar e sobra a Soderbergh a missão de “empurrar”
para dentro dela um conteúdo. Bubble é tão mais satisfatório
quanto mais instintivo parece o material que vemos. Quando Soderbergh
se dispõe a buscar imagens com força simbólica-poética própria,
mete os pés pelas mãos (como fica especialmente claro nas imagens
“iluminadas” da personagem principal, em seus transes epifânicos).
 Não
deixa de ser curioso que muitos tenham elogiado o filme pela sua
capacidade de emular uma realidade típica do white trash
norte-americano, como se através do uso de não-atores Soderbergh
atingisse algum tipo de naturalismo. Pois, seu trabalho está muito
mais próximo da matriz bresson-straubiana, onde o que mais
chama a atenção é o artifício na reconstituição de uma realidade
(artifício este em muito amplificado pelo uso do scope e dos enquadramentos
quase sempre fixos). Que se some a isso sua forma de filmar o
ambiente das linhas de produção industriais, como poucas vezes
se viu no cinema americano. A verdadeira operação que Soderbergh
parece operar aqui é a de pegar a banalidade da vida média americana
e buscar arrancar o excepcional dela: espremer o cinema (líquido
vital do qual se alimenta) que há na normalidade – seja pelo trabalho
visual, seja pela irrupção de uma trama tipicamente cinematográfica
da vida comum de seus personagens. Não
deixa de ser curioso que muitos tenham elogiado o filme pela sua
capacidade de emular uma realidade típica do white trash
norte-americano, como se através do uso de não-atores Soderbergh
atingisse algum tipo de naturalismo. Pois, seu trabalho está muito
mais próximo da matriz bresson-straubiana, onde o que mais
chama a atenção é o artifício na reconstituição de uma realidade
(artifício este em muito amplificado pelo uso do scope e dos enquadramentos
quase sempre fixos). Que se some a isso sua forma de filmar o
ambiente das linhas de produção industriais, como poucas vezes
se viu no cinema americano. A verdadeira operação que Soderbergh
parece operar aqui é a de pegar a banalidade da vida média americana
e buscar arrancar o excepcional dela: espremer o cinema (líquido
vital do qual se alimenta) que há na normalidade – seja pelo trabalho
visual, seja pela irrupção de uma trama tipicamente cinematográfica
da vida comum de seus personagens.
Na verdade, se Bubble parece ser um manifesto
de alguma coisa, isso se dá menos num sentido estético (afinal,
sabemos que Soderbergh não tem dogmas), e mais na afirmação da
potência ficcional-cinematográfica do mundo. Soderbergh acredita
que há cinema a ser retirado e encontrado em toda ação/situação
humana – é só uma questão de esperar. Nesse sentido, todos os
filmes dele são de uma comovente profissão de fé no seu meio expressivo
– e destes talvez Bubble seja o mais comovente, especialmente
se visto como o Doutor Jekyll em relação com o Mister Hyde da
série Onze Homens e um Segredo – dois lados do mesmo espelho
onde artifício e mundo real se cruzam o tempo todo. Entre os não-atores
interpretando em Bubble, e Julia Roberts encenando a si
mesma, a distância não é tão grande.
editoria@revistacinetica.com.br
|

