Holy Motors, de Leos Carax (França/Alemanha,
2012)
por Pedro Henrique Ferreira
Mais do que dois, menos que um
“O Senhor não consegue
consolar Shakespeare,
um homem que criou tantos papéis, mas que só quer
ser si mesmo.”
Jorge Luis Borges
 Cerca de trinta anos atrás, o crítico Alain Bergala recebia o longa-metragem de estréia de Leos Carax, Boy Meets Girl com a constatação de que havia nele, junto a outros filmes rotulados como ‘maneiristas’, uma consciência de que “o cinema tem 90 anos, que sua época clássica já passou há vinte anos e que sua época moderna acaba de terminar no fim dos anos 70.” Por mais que hoje as conexões do ensaio intitulado De certa maneira possam ser lidas como levianas, o que se torna mais e mais evidente é um sentimento de cansaço, de ter-se chegado “tarde demais” por parte de vários destes diretores que vivenciaram não tão somente o ápice do clássico e a rarefação do moderno, mas também inovações técnicas (o vídeo e o digital, por exemplo) indispensáveis para se pensar o cinema dos anos 80 em diante. Curioso é como ainda hoje, um punhado de filmes destes mesmos diretores, como Caminho para o Nada, Cópia Fiel, Cosmópolis, e agora o trabalho mais recente de Carax, Holy Motors, lidam com questões semelhantes, que tocam de forma nova as velhas ponderações de Bergala, e que figuram até certo ponto na vanguarda do contemporâneo. Cerca de trinta anos atrás, o crítico Alain Bergala recebia o longa-metragem de estréia de Leos Carax, Boy Meets Girl com a constatação de que havia nele, junto a outros filmes rotulados como ‘maneiristas’, uma consciência de que “o cinema tem 90 anos, que sua época clássica já passou há vinte anos e que sua época moderna acaba de terminar no fim dos anos 70.” Por mais que hoje as conexões do ensaio intitulado De certa maneira possam ser lidas como levianas, o que se torna mais e mais evidente é um sentimento de cansaço, de ter-se chegado “tarde demais” por parte de vários destes diretores que vivenciaram não tão somente o ápice do clássico e a rarefação do moderno, mas também inovações técnicas (o vídeo e o digital, por exemplo) indispensáveis para se pensar o cinema dos anos 80 em diante. Curioso é como ainda hoje, um punhado de filmes destes mesmos diretores, como Caminho para o Nada, Cópia Fiel, Cosmópolis, e agora o trabalho mais recente de Carax, Holy Motors, lidam com questões semelhantes, que tocam de forma nova as velhas ponderações de Bergala, e que figuram até certo ponto na vanguarda do contemporâneo.
 Assim
como a mais recente narrativa joyceana de Cronenberg
(e, não à toa ambos fizeram parte da seleção
oficial de Cannes), Holy Motors é um dia na vida
de um homem viajando dentro de uma limusine. Fugimos da esfera
das contradições políticas e nos lançamos
a um jogo de representação, no qual Denis Lavant
atua em diferentes papéis a cada vez que sai do veículo.
Aproximamo-nos, quem sabe, das múltiplas encenações
da imagem presente no Kiarostami de dois anos atrás. Mas
o envolvimento é menos filosófico, e remete menos
aos temas pictóricos da história da arte do que
puramente cinéfilos. Cada vez que Lavant sai de sua limusine
e encena um novo papel, descortina-se uma vida absolutamente diferente
da anterior, filtrada por alusões a obras cinematográficas
que inclui, por exemplo, o protagonista de Merde, segmento
que o próprio Carax dirigiu em 2008. Cria-se um tom de
estranheza, maravilhamento e esquizofrenia no vai-e-vem do ator
por estes papéis na medida em que Holy Motors
acompanha suas transformações e verte sua forma
de registro e seu clima junto à personalidade que Lavant
assume. Assim
como a mais recente narrativa joyceana de Cronenberg
(e, não à toa ambos fizeram parte da seleção
oficial de Cannes), Holy Motors é um dia na vida
de um homem viajando dentro de uma limusine. Fugimos da esfera
das contradições políticas e nos lançamos
a um jogo de representação, no qual Denis Lavant
atua em diferentes papéis a cada vez que sai do veículo.
Aproximamo-nos, quem sabe, das múltiplas encenações
da imagem presente no Kiarostami de dois anos atrás. Mas
o envolvimento é menos filosófico, e remete menos
aos temas pictóricos da história da arte do que
puramente cinéfilos. Cada vez que Lavant sai de sua limusine
e encena um novo papel, descortina-se uma vida absolutamente diferente
da anterior, filtrada por alusões a obras cinematográficas
que inclui, por exemplo, o protagonista de Merde, segmento
que o próprio Carax dirigiu em 2008. Cria-se um tom de
estranheza, maravilhamento e esquizofrenia no vai-e-vem do ator
por estes papéis na medida em que Holy Motors
acompanha suas transformações e verte sua forma
de registro e seu clima junto à personalidade que Lavant
assume.
 Quão
mais novas personalidades o protagonista de Holy Motors veste
durante este dia na limusine, mais notamos um cansaço progressivo,
e menos percebemos quem Lavant realmente é. O rosto exterior
é tomado por múltiplas máscaras, mas o interior
parece um grande oco. Lavant é um fruto da fantasmagoria
de Derrida, mais do que dois e menos que um. Um esvaziamento do
conteúdo, da personalidade individual para ser mais preciso,
e a manutenção da sua forma em uma máscar
- sendo esta, por sua vez, cambiante, passível de ser trajada
e desnudada. Esta seria justamente uma das duas características
do ‘maneirismo’ oitentista que Carax exercita na dramaturgia.
A outra, mais relevante hoje em dia do que o binômio, é
uma decorrência desta primeira: o ‘tarde demais’,
um anacronismo de espírito que se revela na expressão
do ator toda vez que a maquiagem se subtrai, que pausa para descansar
ou que respira antes de entrar em cena. Indo de um rastro a outro
sem ter realmente onde aportar, o homem se vê perdido, exausto
e envelhecido num lugar em que botam mais de cem quilos (referentes
a cada ano da história cinematográfica) em seus
ombros, todos de uma só vez. Quão
mais novas personalidades o protagonista de Holy Motors veste
durante este dia na limusine, mais notamos um cansaço progressivo,
e menos percebemos quem Lavant realmente é. O rosto exterior
é tomado por múltiplas máscaras, mas o interior
parece um grande oco. Lavant é um fruto da fantasmagoria
de Derrida, mais do que dois e menos que um. Um esvaziamento do
conteúdo, da personalidade individual para ser mais preciso,
e a manutenção da sua forma em uma máscar
- sendo esta, por sua vez, cambiante, passível de ser trajada
e desnudada. Esta seria justamente uma das duas características
do ‘maneirismo’ oitentista que Carax exercita na dramaturgia.
A outra, mais relevante hoje em dia do que o binômio, é
uma decorrência desta primeira: o ‘tarde demais’,
um anacronismo de espírito que se revela na expressão
do ator toda vez que a maquiagem se subtrai, que pausa para descansar
ou que respira antes de entrar em cena. Indo de um rastro a outro
sem ter realmente onde aportar, o homem se vê perdido, exausto
e envelhecido num lugar em que botam mais de cem quilos (referentes
a cada ano da história cinematográfica) em seus
ombros, todos de uma só vez.
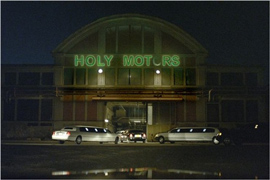 Sabe-se que Carax desgosta assumidamente de técnicas digitais. Porém, o veterano foi obrigado a evitar a câmera em 35mm para garantir o financiamento de Holy Motors. O sentimento de cansaço ao qual me referia está vinculado à ferramenta digital e seus êxitos na planificação e desabrigo da história, na invenção de uma vida feita de figuras sem rostos reais, de um “eu” vagante entre máscaras, de uma perda da aura à qual o título faz menção declarada. Isso mostra apenas como o prognóstico de uma crise na imagem ao qual Bergala dedicara um ensaio e o ônus do tempo que os maneiristas tiverem de suportar ainda se apresentam como questões irresolutas no presente, que não podem ser eliminadas com um risco arbitrário. A todo custo, vemos Carax lutar para retomar uma inspiração naufragada pelo excesso, resgatar uma memória antes do suicídio iminente. Um cinema que, assim como Lavant, não quer ser um fantasma. Não quer viver com o pé na cova. Que reivindica somente e ainda ser a si mesmo depois de já ter sido tanta coisa, de já ter sido tudo que é possível ser. Sabe-se que Carax desgosta assumidamente de técnicas digitais. Porém, o veterano foi obrigado a evitar a câmera em 35mm para garantir o financiamento de Holy Motors. O sentimento de cansaço ao qual me referia está vinculado à ferramenta digital e seus êxitos na planificação e desabrigo da história, na invenção de uma vida feita de figuras sem rostos reais, de um “eu” vagante entre máscaras, de uma perda da aura à qual o título faz menção declarada. Isso mostra apenas como o prognóstico de uma crise na imagem ao qual Bergala dedicara um ensaio e o ônus do tempo que os maneiristas tiverem de suportar ainda se apresentam como questões irresolutas no presente, que não podem ser eliminadas com um risco arbitrário. A todo custo, vemos Carax lutar para retomar uma inspiração naufragada pelo excesso, resgatar uma memória antes do suicídio iminente. Um cinema que, assim como Lavant, não quer ser um fantasma. Não quer viver com o pé na cova. Que reivindica somente e ainda ser a si mesmo depois de já ter sido tanta coisa, de já ter sido tudo que é possível ser.
Outubro de 2012
editoria@revistacinetica.com.br
|

