in loco - cobertura dos festivais
Mãe e Filha, de Petrus Cariry (Brasil, 2011)
por
Thiago Brito
 Contemporâneo Contemporâneo
De
volta a Cococi, a filha deve trazer o filho natimorto aos olhos
da mãe. A filha deseja enterrar logo a criança;
a mãe deseja mantê-la, mesmo morta, à espera
do falecido marido, afastado e possível fantasma. Destarte,
a questão gira em torno do embate entre gerações,
um embate entre tradições: de um lado, a filha,
que busca uma forma de romper o peso do misticismo da mãe;
do outro, a mãe, que busca unguentar o menino falecido
à guisa de um contato espiritual com um além. A
cidade do interior é reclusa e isolada. Por ser fantasma,
guarda o peso de um passado revestido de tradição.
É no minuto que a filha embrenha-se no mato que já
vemos as figuras dos cangaceiros à espreita: a terra resguarda
forças, um passado imantado. E, assim, o filme nos carrega
inundado pelo misticismo daquele espaço: uma cidade abandonada
(já filmada por Petrus Cariry em Dos Restos e das Solidões),
onde cada pequena ruína guardaria em si a força
tresloucada de um espírito em convulsão. Não
à toa, é o ruído arrufado que persegue todo
o filme, onde os sons da noite se apresentam mesmo em cenas de
dia - a noite, a floresta, o desconhecido; enfim, é um
lamaçal de simbolismos e sensações sinistras.
As questões apontam para um desfecho enérgico e,
no mínimo, aberto a interpretações. A filha
corre em direção aos cangaceiros, que embargam sua
passagem. A corrida é exasperante. Há, portanto,
briga, uma vontade de rompimento. Existe luta. Mas, o que exatamente
está nossa protagonista buscando? Entre qualquer coisa,
aparentemente, o ato, e não o fim. Isto é, importa
mais a exasperação do que a finalidade para onde
se deseja ir.
 Estes
pequenos pontos não nos são estranhos. Aliás,
podemos até mesmo aferir que eles constituem elementos
possíveis de inúmeros filmes contemporâneos,
que continuamente andam investindo em idéias abstratas
de relação com o mundo, de maneira que procuram
fugir, no mínimo, de uma perspectiva deveras concreta,
realista, ou pura e simplesmente imediata, de um estar no mundo.
Não apenas deve existir, mas tem que existir mais
coisas no mundo do que sonha nossa vã filosofia. Este tipo
de posicionamento de um cineasta, que se espraia num leque que
vai de Terrence Malick até nosso Petrus Cariry, pode nos
indicar muito claramente um sintoma que se busca resolver de forma
bastante interessante através da idéia de um espaço. Estes
pequenos pontos não nos são estranhos. Aliás,
podemos até mesmo aferir que eles constituem elementos
possíveis de inúmeros filmes contemporâneos,
que continuamente andam investindo em idéias abstratas
de relação com o mundo, de maneira que procuram
fugir, no mínimo, de uma perspectiva deveras concreta,
realista, ou pura e simplesmente imediata, de um estar no mundo.
Não apenas deve existir, mas tem que existir mais
coisas no mundo do que sonha nossa vã filosofia. Este tipo
de posicionamento de um cineasta, que se espraia num leque que
vai de Terrence Malick até nosso Petrus Cariry, pode nos
indicar muito claramente um sintoma que se busca resolver de forma
bastante interessante através da idéia de um espaço.
Histórias que Só Existem Quando Lembradas,
Girimunho e Mãe e Filha (além
de outros), todos se situam na idéia de um interior. Todos
atuam na compreensão bastante clara de que, se alguma coisa
pode existir de diferente nesse nosso mundo já todo tão
igual, só pode realmente vir de uma situação
limítrofe, em que esquecimento, lembrança, tradição
e misticismo se encontram e auto-fecundam-se em um painel indistinto
de novas perspectivas de mundo. Em tudo, podemos dizer com alguma
certeza: existe a necessidade de buscar algo de diferente. E,
para isso, os filmes estão nos levando cada vez mais para
um interior esquecido, arruinado, assolado, passado; um interior
cada vez mais interior. De lá, buscam extrair qualquer
coisa de exepcional que, necessariamente, justifique nossa viagem.
Ou pelo menos, é isso o que fazem os três longas-metragens
aqui citados. Em todos, somos obrigados a achar alguma coisa
de sublime, de diferente, alguma graça que esteja escondida
abaixo de mil meandros.
 Petrus
Cariry buscou resolver-se apostando em um quadro mais esquemático
de uma divisão entre dois mundos: aquele de Cococi, e aquele
do universo (claramente urbano: Fortaleza) da filha. Ao contrário
de Girimunho, onde o espaço mais aparece como
um facilitador, um meio fértil de onde personagens tão
únicas (ou, pelo menos, é assim que o filme deseja
que olhemos para elas) possam vir a ser; ou mesmo Histórias...,
onde o espaço é, a um só tempo, um elemento
que possibilita a existência daquelas personagens e um horizonte
possível para uma nova existência, Mãe
e Filha enchafurda-se no misticismo completo: Cococi é
quase autárquico, um organismo que se auto-sustenta. Esta
prerrogativa é o corte que ocasiona a divisão: a
força de Cococi não pode viver ao lado de uma concepção
de mundo como o da Filha; eles vivem um ao lado do outro, de forma
combativa e eliminatória. Esse combate obriga o filme a
fazer uma escolha, e a maneira quase reverencial com que filma
cada ruína de Cococi não dificulta saber qual delas
vence. Petrus
Cariry buscou resolver-se apostando em um quadro mais esquemático
de uma divisão entre dois mundos: aquele de Cococi, e aquele
do universo (claramente urbano: Fortaleza) da filha. Ao contrário
de Girimunho, onde o espaço mais aparece como
um facilitador, um meio fértil de onde personagens tão
únicas (ou, pelo menos, é assim que o filme deseja
que olhemos para elas) possam vir a ser; ou mesmo Histórias...,
onde o espaço é, a um só tempo, um elemento
que possibilita a existência daquelas personagens e um horizonte
possível para uma nova existência, Mãe
e Filha enchafurda-se no misticismo completo: Cococi é
quase autárquico, um organismo que se auto-sustenta. Esta
prerrogativa é o corte que ocasiona a divisão: a
força de Cococi não pode viver ao lado de uma concepção
de mundo como o da Filha; eles vivem um ao lado do outro, de forma
combativa e eliminatória. Esse combate obriga o filme a
fazer uma escolha, e a maneira quase reverencial com que filma
cada ruína de Cococi não dificulta saber qual delas
vence.
Mas, qual é a imagem que nos sobra? Esta é uma questão
confusa, bastante complicada. A todo momento, Cococi nos vem inviesado,
indireto, já que aquilo que podemos considerar espiritual
nunca pode ser visto em cheio, face a face. Assim como em muitos
filmes contemporâneo – e aí podemos ir de Mal
dos Trópicos até A Fuga da Mulher Gorila,
ou mesmo Árvore da Vida e Girimunho –
uma imagem não pode faltar: a tela preta, o som sugestivo
(noite, aves, vento). Talvez essa seja a melhor resposta para
o que se busca. Se o interesse é uma reverência,
um respeito, um voltar-se completamente para aquilo que nos é
desconhecido, invisível; se a função do cinema,
atualmente, é nos entregar às sensações
daquilo que não conhecemos, ou vivenciamos inteiramente;
se é isso o que se deseja, calmamente vamos caminhando
a um tipo de radicalidade que é plenamente expressada na
frase de Juliano Gomes, sobre Tio Boonmee: “Tio
Boonmee é um filme sobre o cinema”.
Afinal, o que é a tela escura e os sons sugestivos se não
um voltar-se literalmente a si mesmo? Quando dentro do
cinema, sentimos apenas o estar ali, não há imagem,
não há horizonte: há a tela que nos retorna
nada, há os sons que nos sugerem uma aventura ao desconhecido
(a velha história, mais velha do que a palavra ser: o bosque
de Chapeuzinho Vermelho, a senda por onde, caminhando, nos deparamos
com o obscuro, aquilo que pode nos engolir ou revelar). A tela
escura é uma unidade, e não um fragmento.
Talvez a pior coisa que Apichatpong legou ao cinema: um novo misticismo.
A salvação do cinema, ao que tudo indica, estava
alí, na nossa cara, no início do cinema, no primeiro
cinema (e mesmo no videoclipe, seu filho bastardo) - estava, caladinho,
no próprio cinema, no ato de se sentar em uma cadeira,
numa sala escura, e curtir seus elementos, se deparar com uma
imagem e um som que se justificam por si mesmos, que nos intrigam
e nos fazem continuar a ficar sentados.
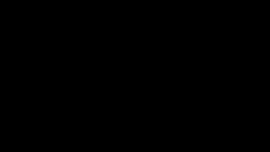 Agora,
podemos ficar aqui deduzindo ao que possivelmente isso pode nos
levar. Talvez a nada. No entanto, creio que pelo menos uma coisa
pode ser dita: que, atualmente, e em crescimento, um dos maiores
clichês do cinema contemporâneo - e está aqui,
em Mãe e Filha, e está em Girimunho,
e está em Mal dos Tropicos - é exatamente
este pequeno momento: não ter imagem. Agora,
podemos ficar aqui deduzindo ao que possivelmente isso pode nos
levar. Talvez a nada. No entanto, creio que pelo menos uma coisa
pode ser dita: que, atualmente, e em crescimento, um dos maiores
clichês do cinema contemporâneo - e está aqui,
em Mãe e Filha, e está em Girimunho,
e está em Mal dos Tropicos - é exatamente
este pequeno momento: não ter imagem.
Outubro de 2011
editoria@revistacinetica.com.br |

