ensaios
No silêncio da noite
por
Juliano Gomes
 "Meu signo é o da morte porém trago "Meu signo é o da morte porém trago
uma balança interior uma aliança
da solidão com as coisas exteriores".
(Signo, Sophia de Mello Breyner Andresen)
O trabalho de Jonas Mekas, a partir dos anos 80 e 90, da proliferação do home vídeo, começou a ser tornar, retroativamente, uma referência para o campo do documentário. No momento onde começam a ser mais visíveis as abordagens inventivas e negociadas de relação com o mundo nesse campo cinematográfico, Mekas surge como uma espécie de “elo perdido” entre a pujança inventiva da vanguarda e a fé no mundo como manifestação visível do documentário. Não é intuito aqui discutir o velho problema deste conceito e sua “maldição” que paira sobre seus maiores expoentes que, para chegar nesse lugar, sempre transpassam suas supostas margens: Flaherty, Rouch e Maysles, só para citar os cânones. Apesar dessa falha trágica em seu nascimento, que parece ofuscar sua potência como obra, e obliterar sua possível força real, o cinema de Mekas parece pulsar neste território de limite onde urge uma reconfiguração da relação obra-mundo que ameaça o domínio estético-político do documentário, e se estende muito além dele.
O problema se coloca na medida em que a obra se apóia num território que a transcenderia. Há sempre algo que resiste (justamente porque desaparece) em seus fragmentos. Há todo um novo campo em jogo. Não mais cenas, talvez nem mesmo planos, habitam esse espaço. A única possível unidade talvez esteja fora de quadro, instância organizadora do filme, que parece trair a si mesma a cada corte, a cada elemento estranho que toma lugar nos rolos. Tal construção, ao contrário do que se poderia pensar, não visa garantir um lugar especial, seguro, moralmente virtuoso, para as obras, mas configurar um horizonte de recusas e fundar novas afirmações a partir de linhas muito específicas (se trata aqui também de uma linhagem dos cinemas “cinéfilos” dos anos 50 e 60, porém com uma relação bastante distinta com o modo de produção industrial, substituindo-o pelo do cinema de atrações). Se o mundo exterior é sua matéria, sua tarefa é justamente destituí-lo de seu centro, é fazê-lo imagem e fazê-lo pulsação, pela duração, pelas variações infinitas de exposição, movimento e angulação. Nos filmes de Mekas, o mundo é evocado justamente pela ação no quadro, do quadro, no som e do som. Mais do que observação participante, seu cinema, assim como seu trabalho crítico, é de agitação das mãos, dos olhos, do corpo. Sua Bolex torna-se um órgão, um músculo, que se alimenta do exterior e o devolve desarranjado, ralo, quase sem matéria.
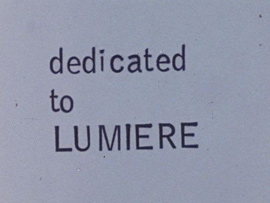 Essa pulsação mesma é que vai retransformá-lo em substância, outra, transformada, justamente pelo ritmo. Mekas é um artista da síntese (não como resumo, mas como concentração e contração). Daí sua dedicatória, em Walden, aos irmãos Lumière. Essa poética tomará forma principalmente pelo improviso, seja no trabalho de câmera ou de som. Improviso como modo de condensação do instante, do instante como diferença e pulsação. E daí seu fracasso fundador: sua obra se dedica justamente à tragédia da passagem do tempo nos corpos e nos espaços, como um grande lamento, marcha fúnebre, diante da impossibilidade da representação do presente, e de sua retenção. É isso que impele sua obra. E é essa fratura que a permite viver infinitamente, e que funda suas separações, entre som e imagem, entre sua imagem e si próprio, entre as matérias que compõem e “descompõem” o filme. Trata-se de radicalizar a infidelidade da obra com a apreensão do mundo pensado como fixidez e estabilidade. Essa pulsação mesma é que vai retransformá-lo em substância, outra, transformada, justamente pelo ritmo. Mekas é um artista da síntese (não como resumo, mas como concentração e contração). Daí sua dedicatória, em Walden, aos irmãos Lumière. Essa poética tomará forma principalmente pelo improviso, seja no trabalho de câmera ou de som. Improviso como modo de condensação do instante, do instante como diferença e pulsação. E daí seu fracasso fundador: sua obra se dedica justamente à tragédia da passagem do tempo nos corpos e nos espaços, como um grande lamento, marcha fúnebre, diante da impossibilidade da representação do presente, e de sua retenção. É isso que impele sua obra. E é essa fratura que a permite viver infinitamente, e que funda suas separações, entre som e imagem, entre sua imagem e si próprio, entre as matérias que compõem e “descompõem” o filme. Trata-se de radicalizar a infidelidade da obra com a apreensão do mundo pensado como fixidez e estabilidade.
Se o lamento de Mekas é também uma melancolia do paraíso perdido, sua “regressão” concebe uma espécie de pré-mundo, onde as coisas ainda não têm forma nem nome. Cada rolo, um big bang, um emaranhado, de onde se pode traçar ligações com o olhar, com a voz, com a música ou com outros textos. Se o cinema não conseguiu restituir por completo ainfância harmoniosa na Lituânia natal, ele pode encenar o princípio do mundo, a presença do informe, a anterioridade do todo, como uma máquina do tempo descalibrada.  Por isso, há uma bruta dessingularização que sua poética opera sobre os materiais, e que o faz driblar o narcisismo e o culto solene àquelas personagens. Não há mundo que se possa reconhecer e reconectar ali; as ligações diretas, de reconhecimento, de paridade, de mímese, foram quebradas. E a partir desse lugar isolado, a obra cria suas próprias regras. Num estado pré-harmônico, se pode extrair a força de instantes pregnantes isolados e em fluxo, essas iluminações (os “brief glimpses of beauty”), intensidades, imateriais, que emanam do mundo mas que levam dele somente um traço, uma fugaz e fantasmagórica marca. O filme é como uma colcha de retalhos, de sudários, que se superpõem e criam um novo cosmos. Sua metafísica romântica está nesse desejo de imposição e criação de um estado de coisas à sua maneira, que se consolida, em sua densa volatilidade, na medida em que funciona em novas bases, nesse acúmulo de quase presenças, com ou sem nome, que se equivalem. Por isso, há uma bruta dessingularização que sua poética opera sobre os materiais, e que o faz driblar o narcisismo e o culto solene àquelas personagens. Não há mundo que se possa reconhecer e reconectar ali; as ligações diretas, de reconhecimento, de paridade, de mímese, foram quebradas. E a partir desse lugar isolado, a obra cria suas próprias regras. Num estado pré-harmônico, se pode extrair a força de instantes pregnantes isolados e em fluxo, essas iluminações (os “brief glimpses of beauty”), intensidades, imateriais, que emanam do mundo mas que levam dele somente um traço, uma fugaz e fantasmagórica marca. O filme é como uma colcha de retalhos, de sudários, que se superpõem e criam um novo cosmos. Sua metafísica romântica está nesse desejo de imposição e criação de um estado de coisas à sua maneira, que se consolida, em sua densa volatilidade, na medida em que funciona em novas bases, nesse acúmulo de quase presenças, com ou sem nome, que se equivalem.
Esse é o estado que é criado aqui, um estado de equivalência geral das matérias, e seu trabalho é decantar os fragmentos para que sobre deles esse substrato comum e conflitante. Neste nível, a montagem pode ir de um a outro, sem sobressaltos (porque este é único modo de movimentação aqui, via ligações de heterogeneidade). Tal indistinção torna seu trabalho reconhecível instantaneamente, em relação a ele mesmo, e não à sua origem fora do filme: um estilo, um andamento. Sua política assim se estabelece: contra o sujeito, que não se deixa constituir, e assim também afastada de uma possível idéia de humanização, na medida em que os contornos não se fecham. E também a própria idéia de partilha, que de alguma maneira acaba por impressionar a imagem no momento da exposição, se enfraquece diante da solidão e separação que a obra funda: nada se toca ali; há algumas partes como que cada uma em uma direção, atravessadas por vozes que as cortam, ainda de um outro tempo e lugar. Se há igualdade dos elementos, há também uma espécie de isolamento que se propaga a partir dessa figura que fala, essa figura sem rosto, que nunca diz “eu” (palavra que funde imagem e voz), que habita essa mesa de montagem invisível, essa imagem negativa de onde todo o filme parte e reproduz. A solidão de Mekas com seu infinito material é talvez o lugar onde um “mundo” se torna quase possível de se estabelecer, mas que nunca se constitui. Um lugar para onde o filme se deixa repousar, pelo som, mas que rapidamente se dissipa sem nenhum porquê, quando a voz se torna ruído, silêncio ou canção.
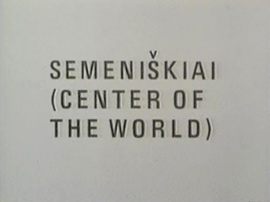 Não se trata nem de trazer o cinema para sua materialidade, anti-ilusionisticamente, ou reforçar seu caráter de fantasia, mas de criar um sistema acentrado, que extrai fantasia da matéria, separando seus véus e mostrando que só deles ela é constituída, fazendo com que cada elemento do mundo torne-se superfície, pedaço de filme, facho de luz, ruído puro, isolando assim as duas pontas. Há, como em Warhol, um processamento temporal das matérias, que nos devolve o mundo em excesso e falta, aqui, pela duração mínima dos planos e pela duração dilatada dos filmes, pelo fracionamento dos corpos e espaços em teleobjetiva, e pela multiplicação de pontos de vista. Trata-se de uma arte da síncope, do tempo fraco, de concentração e marcação na falta: de imagem, de personagem, de sujeito, de cena, de quadro, de matéria, de mundo. Ao mesmo tempo Big Bang e desfile do desaparecimento (próximo de Fellini, por exemplo, na sucessão de performances que antecedem o desaparecimento que tudo submete, em seu nomadismo circense). Não se trata nem de trazer o cinema para sua materialidade, anti-ilusionisticamente, ou reforçar seu caráter de fantasia, mas de criar um sistema acentrado, que extrai fantasia da matéria, separando seus véus e mostrando que só deles ela é constituída, fazendo com que cada elemento do mundo torne-se superfície, pedaço de filme, facho de luz, ruído puro, isolando assim as duas pontas. Há, como em Warhol, um processamento temporal das matérias, que nos devolve o mundo em excesso e falta, aqui, pela duração mínima dos planos e pela duração dilatada dos filmes, pelo fracionamento dos corpos e espaços em teleobjetiva, e pela multiplicação de pontos de vista. Trata-se de uma arte da síncope, do tempo fraco, de concentração e marcação na falta: de imagem, de personagem, de sujeito, de cena, de quadro, de matéria, de mundo. Ao mesmo tempo Big Bang e desfile do desaparecimento (próximo de Fellini, por exemplo, na sucessão de performances que antecedem o desaparecimento que tudo submete, em seu nomadismo circense).
Não cessa de aumentar, na duração do filme (Lost, Lost, Lost), esse espaço deixado entre as imagens e as coisas, não permitindo comunhão direta entre seus elementos, colocando-os em choque, rumo a uma dissolução, na expectativa de que alguma dessas faíscas possa encontrar morada no olhar de quem vê. Assim como no seu trabalho em vídeo, o que se espera, o que alimenta a obra, é esse nascimento como possibilidade, essa aposta cega em um jogo que é perdido (o da apreensão do tempo, o da ligação direta com o mundo e entre esse e as imagens), e, por isso mesmo, fértil, a partir desse magma que é criado. A cada buraco negro que abre nesse caldo anti-matéria (que se toma forma pela sucessão de desaparecimentos e também pela extrema concentração e densidade do tempo performático), um novo palco, um novo mundo pode existir e se desviar, indefinidamente. E se não há mundo é porque é preciso inventá-lo, na obra. Mesmo que ele dure somente até a imagem seguinte. Essa é sua força e sua tragédia.
Setembro de 2011
editoria@revistacinetica.com.br |

