|
ensaios - especial retrospectiva 2007
Os porquês de uma lista pessoal
Os
30 melhores filmes de 2007 (ou: Por que fazer uma lista?)
por
Francis Vogner dos Reis
De saída é preciso
dizer: esta não é uma lista da revista Cinética, mas sim uma lista pessoal do
redator que aqui escreve. A editoria da Cinética optou por não fazer uma lista
de melhores do ano, mas sim artigos de retrospectiva, entre outros motivos por
considerar que a proposta da revista é justamente a de ser um fórum para vozes
e opiniões diferentes, enquanto uma lista de melhores do ano iria supor uma linha
editorial de orientação mais homogênea. Não que se acredite, por exemplo, que
revistas como Contracampo e Paisà que organizam suas tradicionais listas de “melhores
do ano” pensem com um cérebro só (o do editor). Não é isso. Mas essas revistas
(mais a Contracampo) se posicionam de modo mais coletivo (ai o interesse, principalmente,
por pautas), que o que não exclui a individualidade dos redatores.
Eu
pessolmente gosto de listas. Hoje é normal vermos listas de tudo, “top 10”, “top
5”, “top 100”. De modo geral, elas são canônicas e quase sempre injustas ou estúpidas.
A fama das listas não é boa e isso em grande parte faz sentido. A lista de filmes
que a revista Época fez este ano por exemplo, é obviamente inútil e oportunista:
não quer dizer nada a não ser repetir o que foi “ sensação”. As listas de filmes
da American Film Institut são, pra dizer o mínimo, populistas. Colocar Casablanca
e A Primeira Noite de um Homem entre os dez maiores filmes do cinema americano
não é lá algo muito rigoroso. Então por que fazer uma lista? Não
é de se ignorar que revistas como Cahiers du Cinèma e Positif fizeram parte de
sua história por meio de suas listas. Na adolescência, antes de eu ler sequer
um texto dessas revistas, chegaram às minhas mãos algumas listas de melhores do
ano realizadas por elas. Assim soube que Robert Aldrich e Frank Tashlin eram queridos
pela Cahiers, ao passo que John Boorman e Stanley Kubrick sempre frequentaram
os tops da Positif. Saber que a Cahiers du Cinèma considerava Edward Mãos de
Tesoura e Os Imperdoáveis grandes filmes não me deixava sozinho, porque
afinal meus amigos mais inteligentes desprezavam Burton para gostar de Bergman,
e os menos interessados achavam que faroeste era coisa de gente velha. Certamente
daí veio o gosto pela crítica, saber que Abbas Kiarostami e John Carpenter poderiam
ocupar, generosa e democraticamente, o mesmo panteão, com méritos além do “gosto
ou não gosto”. Assim, interessa criar uma listagem de melhores
filmes porque ela também pode salientar uma postura do crítico perante o cinema
de seu tempo, demarcar seu gosto (e declarar que gosto se discut,e sim), mas principalmente
por impor exclusões. E as exclusões, sabemos, podem dizer mais do que as inclusões.
É como na seleção brasileira: chama mais a atenção o craque atacante que não foi
convocado, do aquele lateral direito correto, mas sem muito talento, que conseguiu
uma vaga. Naturalmente não vai se questionar muito “porque chamaram esse lateral”,
mas haverá discussão ferrenha pelo fato de “aquele atacante ter sido preterido
com relação a outro”. Mas para mim uma lista só faz sentido
se ela for comentada, se ela for um modo de compor um painel crítico dos filmes
que tiveram presença no nosso circuito durante o ano. Uma mera listagem faz da
lista, simplesmente, uma lista. Uma lista comentada vai costurar algumas tendências,
alguns projetos estéticos que movem quem a realizou. Assim é importante notar
que filmes queridos de grande parte da cinefilia como Mutum, de Sandra
Kogut, ou Em Paris, de Christophe Honoré, ficaram de fora da lista a seguir
– mas este já é um outro assunto e seus porquês serão dados em outro artigo a
ser realizado por mim aqui na Cinética. Essa lista de trinta
filmes (trinta e um, na verdade, como verá o leitor) contempla somente os que
passaram pelo circuito brasileiro. Filmes que foram exibidos por aqui em 2007
como Não Toque no Machado, de Jacques Rivette, I’m Not There, de
Todd Haynes (ambos exibidos na Mostra de São Paulo e Festival do Rio), e os lançamentos
em DVD dos trabalhos de Robert Drew, Chris Marker e de Eric Rohmer são materiais
para um outro texto sobre destaques de 2007. A seguir, então, os meus trinta melhores
filmes lançados no Brasil em 2007: 30. Tropa de Elite,
de José Padilha (Brasil, 2007)
 O
filme de José Padilha estimula uma amarga empatia do espectador com o personagem
do capitão Nascimento, menos pelo propalado “lado humano” do policial (convenhamos
que, durante uma ação policial, ouvir pelo celular o ultra-som do bebê não é lá
um grande achado dramático) e mais por projetar o perverso desejo (também humano)
de “botar ordem no barraco” de “resolver o problema a qualquer custo”. Simples
assim. Na verdade simplista, e o simplismo, como é de praxe no assunto tratado,
é vizinho da truculência. Todos os personagens (os PMs, os membros do BOPE, a
classe média entusiasta do terceiro setor, os estudantes de direito maconheiros)
têm uma leitura satisfatória do mundo e têm uma “idéia” do que está errado, e
acham que o mundo funcionaria direito se fosse um reflexo deles mesmos – daí o
esforço do Capitão Nascimento em fazer um sucessor à sua imagem e semelhança,
ou da classe média fazer a mise-en-scène da conciliação “morro e asfalto”,
que como vemos, dá xabu. Tropa de Elite acaba sendo um filme crítico sobre
as visões reconciliatórias da problemática e do discurso social (de direita, de
esquerda, do centro, e do que mais vier) e ao usar da “empatia” do filme de gênero,
pega no pulo aqueles que acham que o cinema tem o dever de ser a miragem de um
mundo melhor ou no limite, o púlpito das idéias corretas. O
filme de José Padilha estimula uma amarga empatia do espectador com o personagem
do capitão Nascimento, menos pelo propalado “lado humano” do policial (convenhamos
que, durante uma ação policial, ouvir pelo celular o ultra-som do bebê não é lá
um grande achado dramático) e mais por projetar o perverso desejo (também humano)
de “botar ordem no barraco” de “resolver o problema a qualquer custo”. Simples
assim. Na verdade simplista, e o simplismo, como é de praxe no assunto tratado,
é vizinho da truculência. Todos os personagens (os PMs, os membros do BOPE, a
classe média entusiasta do terceiro setor, os estudantes de direito maconheiros)
têm uma leitura satisfatória do mundo e têm uma “idéia” do que está errado, e
acham que o mundo funcionaria direito se fosse um reflexo deles mesmos – daí o
esforço do Capitão Nascimento em fazer um sucessor à sua imagem e semelhança,
ou da classe média fazer a mise-en-scène da conciliação “morro e asfalto”,
que como vemos, dá xabu. Tropa de Elite acaba sendo um filme crítico sobre
as visões reconciliatórias da problemática e do discurso social (de direita, de
esquerda, do centro, e do que mais vier) e ao usar da “empatia” do filme de gênero,
pega no pulo aqueles que acham que o cinema tem o dever de ser a miragem de um
mundo melhor ou no limite, o púlpito das idéias corretas. 29.
A Rainha (The Queen), de Stephen Frears (Inglaterra, 2006)
Stephen
Frears é aquele diretor de filmes de algum interesse, com alguma personalidade,
mas que parece não ter lá muita preocupação em imprimir um carimbo de autor. Às
vezes isso é uma coisa boa (Alta Fidelidade), às vezes não (Sra. Henderson
Apresenta). Em A Rainha isso dá certo: o que vemos é um diretor mais
preocupado em servir ao filme, do que o contrário; mais preocupado em urdir uma
dramaturgia sobre a solidão do que em fazer uma caricatura fácil e conveniente
sobre o anacronismo da monarquia. A Rainha é uma aula de economia, logo,
de cinema. 28. À Procura
da Felicidade (The Pursuit of Happyness),
de Gabrielle Muccino (EUA, 2006)
A história do sucesso começa quando
À Procura da Felicidade termina, portanto esqueçamos o argumento que mais
se usa para criticá-lo. Até lá temos uma ascese melodramática de um pai que, na
miséria, tenta arrumar um emprego e continuar com seu filho. Ele é obsessivo.
O diretor italiano Muccino embarca nessa história com a mesma obsessão, assim
como Will Smith tem uma entrega em igual medida. É raro um filme que, apesar da
chantagem, não faz com que tudo caia na demagogia. Existe ai um motivo: Muccino
constrói as cenas de modo a tornar crível aquela experiência fazendo um exame
exaustivo das emoções. Will Smith deve ser considerado co-autor. 27.
Ratatouille (Ratatouille), de Brad Bird (EUA, 2007)
Brad
Bird tem uma característica presente nos grandes escritores de literatura infantil:
sabe que falar das coisas da vida é não ignorar o lado amargo delas. Ratatouille,
como seus outros filmes, é assim, e não tem a magia dos contos de fada. Nada existe
por mágica, nada é predestinado. É o anti-Shrek, porque não acredita no
paradoxo puro e simples dos contos de fada (o que seria o conto de fadas às avessas,
mas com as mesmas regras), porque sabe que os personagens não “são”, mas “se tornam”.
A história do ratinho que quer ser cozinheiro é uma fábula sobre a criatividade
e o esforço. Heroísmo é fora de questão. 26. Conceição
– Autor Bom é Autor Morto, de André Sampaio, Cynthia Sims, Daniel Caetano,
Guilherme Sarmiento e Samantha Ribeiro (Brasil, 2007)
 Junto
de Signo do Caos, Conceição – Autor bom é autor morto é o único
filme brasileiro contemporâneo sobre a impossibilidade do cinema – além de ser
também um manifesto sobre o desafio de somar o cinema à vida, uma dinâmica que
um dia fez sentido e hoje é como dizer um palavrão, ou “filmar o umbigo”, como
alguns preferem. Peça única, Conceição fala do desejo do cinema, sobre
a vontade de fazer todos os filmes do mundo. É como se o filme coletivo exigisse
do cinema tudo o que ele pode dar e a obrigação de ser tão grande quanto a vida.
É um filme alegre e amargo, mas sem ser cínico. Junto
de Signo do Caos, Conceição – Autor bom é autor morto é o único
filme brasileiro contemporâneo sobre a impossibilidade do cinema – além de ser
também um manifesto sobre o desafio de somar o cinema à vida, uma dinâmica que
um dia fez sentido e hoje é como dizer um palavrão, ou “filmar o umbigo”, como
alguns preferem. Peça única, Conceição fala do desejo do cinema, sobre
a vontade de fazer todos os filmes do mundo. É como se o filme coletivo exigisse
do cinema tudo o que ele pode dar e a obrigação de ser tão grande quanto a vida.
É um filme alegre e amargo, mas sem ser cínico. 25. Antes
Só do que Mal Casado (The Heartbreak Kid), de Peter e Bobby Farrelly
(EUA, 2007)
Antes Só do Que Mal Casado é o grande trabalho do ano
sobre o amor masculino, junto com o curta Hotel Chevalier, de Wes Anderson
(que é mais precisamente sobre a dor de amor masculina) e Ligeiramente Grávidos,
de Judd Apatow (orientado para a dificuldade do homem em ser a “cara metade”).
Amor nos Farrelly é um fenômeno físico, um sentimento preso ao instante, às sensações,
ao desprendimento, por isso, a dificuldade do protagonista em somar amor e casamento,
ao mesmo tempo em que esse mesmo sentimento é capaz de transformar o sujeito em
mendigo, colocar sua vida em risco e fazê-lo atravessar o país. Nunca antes os
homens tiveram mais liberdade (e sinceridade) pra falar das suas concepções de
amor romântico do que em 2007. 24. As Leis de Família
(Derecho de Familia), de Daniel Burman (Argentina/França/Itália/Espanha,
2006)
Como em uma família escolhe-se somente o cônjuge (quase sempre),
ela é naturalmente disfuncional. Leis de Família, de Daniel Burman, falará
sobre isso, e é mais um filme de 2007 sobre o amor do ponto de vista masculino,
mas aqui o que está em jogo é o seu papel como pai (e filho) de família. O personagem
de Daniel Handler é um advogado, tem um filho pequeno e seu pai também é advogado.
Nenhuma das partes se identifica muito com a outra, mas tentam, à sua maneira,
uma convivência. O filme de Burman olha para um eterno conflito conciliado com
a figura paterna, algo possível para um judeu – no caso, o diretor –, sempre em
conflito com Deus. O argentino Daniel Burman pode parecer desleixado, mas existe
em Leis de Família um rigor em sua “falta de estilo”, que não vemos, por
exemplo, em nenhum diretor brasileiro dessa geração. Muita gente vai ficar irritada
com mais uma comparação Brasil e Argentina, mas é isso mesmo. 23.
O Sobrevivente (Rescue Dawn), Werner Herzog (EUA, 2007)
 É
um filme sobre o desespero e a morte. Por isso, não há espaço para delicadezas,
exercícios de estilo e impressionismos. Tanto quanto no primarismo das imagens
de O Homem Urso (só pra lembrar um filme seu cheio de imagens improvisadas),
O Sobrevivente foi realizado como se o cinema só pudesse criar imagens
precárias, pobres e deterministas. Christian Bale matando uma cobra para comer
com os próprios dentes é uma leitura satisfatória do que Herzog tem a dizer, ou
melhor, mostrar. Herzog não pensou muito sobre seu próprio filme? Tanto melhor
assim. É
um filme sobre o desespero e a morte. Por isso, não há espaço para delicadezas,
exercícios de estilo e impressionismos. Tanto quanto no primarismo das imagens
de O Homem Urso (só pra lembrar um filme seu cheio de imagens improvisadas),
O Sobrevivente foi realizado como se o cinema só pudesse criar imagens
precárias, pobres e deterministas. Christian Bale matando uma cobra para comer
com os próprios dentes é uma leitura satisfatória do que Herzog tem a dizer, ou
melhor, mostrar. Herzog não pensou muito sobre seu próprio filme? Tanto melhor
assim. 22. Ponte para Terabítia (Bridge to Terabithia), de Gabor Csupo (EUA, 2006)
Gabor
Csupo, um dos criadores dos Rugrats (Os Anjinhos), usa a mesma moral
de sua criação mais famosa: a infância não é uma idade romântica de descobertas,
mas sim período em que as dúvidas aparecem – dúvidas que, durante a vida, talvez
não terão resposta. Assim, a crença das crianças nas coisas (fantasia, religião)
deve ser um processo sensorial e intelectual, não adesão a um mundo imaginário
imposto. Terabíthia é um mundo imaginário que é criação das duas crianças protagonistas,
e que as ajuda a lidar com questões sérias da vida, mas não todas, como a morte
por exemplo. Ponte para Terabítia é uma anti-fábula infantil barra pesada. 21.
Pedrinha de Aruanda - Maria Bethânia , de Andrucha Waddington (Brasil, 2007)
Andrucha
Waddington fez seu melhor trabalho ao filmar situações no aniversário de sessenta
anos de Maria Bethânia na casa de sua mãe em Santo Amaro da Purificação, na Bahia.
É um documentário que parece uma contradição para os mais ortodoxos: ele é ao
mesmo tempo muito artificial (como todos os filmes do cineasta) e absolutamente
sincero (como nenhum outro trabalho seu soube ser). A performance de Maria Bethânia
não nos deixa saber aonde se localiza a “pessoa” e onde encontramos o “mito”.
Maria Bethânia bem de perto. 20.
Maria Antonieta (Marie Antoinette), de Sofia Coppola (EUA, 2006)
 A
verdadeira Maria Antonieta pareceu ser uma mulher comodamente contaminada por
idéias modernas, mas que inevitavelmente teve de enfrentar a guilhotina em razão
da sua condição: era uma rainha e aquele não era mais o seu tempo. Por isso é
fácil entender a fascinação de Sofia Coppola pela figura. Como as suas outras
heroínas, a Maria Antonieta de Kirsten Dunst vive fora do eixo, não é um corpo
estranho no meio em que vive, mas é inadaptado e inadaptável: uma nobre, mas estrangeira;
esposa do rei, mas mulher; casada, mas à sua revelia. Muito mais que nos outros
filmes da diretora, as coisas aqui estão todas fora de lugar. O fluxo de imagens
tenta dar conta das ambivalências e nessa pegada existem grandes achados, mas
também um exuberante filme congestionado. Por suas contradições, Maria Antonieta
é um documento sobre hoje, e é sim um filme histórico. A
verdadeira Maria Antonieta pareceu ser uma mulher comodamente contaminada por
idéias modernas, mas que inevitavelmente teve de enfrentar a guilhotina em razão
da sua condição: era uma rainha e aquele não era mais o seu tempo. Por isso é
fácil entender a fascinação de Sofia Coppola pela figura. Como as suas outras
heroínas, a Maria Antonieta de Kirsten Dunst vive fora do eixo, não é um corpo
estranho no meio em que vive, mas é inadaptado e inadaptável: uma nobre, mas estrangeira;
esposa do rei, mas mulher; casada, mas à sua revelia. Muito mais que nos outros
filmes da diretora, as coisas aqui estão todas fora de lugar. O fluxo de imagens
tenta dar conta das ambivalências e nessa pegada existem grandes achados, mas
também um exuberante filme congestionado. Por suas contradições, Maria Antonieta
é um documento sobre hoje, e é sim um filme histórico. 19.
Morte no Funeral (Death in a Funeral), de Frank Oz (Inglaterra/EUA,
2007)
Um filme conservador: ritmo de comédia inglesa (contido e implosivo);
a teatralidade da palavra, do gesto e da marcação de atores antiquada; uma grande
quantidade de personagens em função do funeral de um respeitável cavalheiro; roteiro
aparentemente de “ferro”. Nenhum tema ou questão conceitual que dialogue com as
mais recentes (e elogiadas) comédias. Pode se ver Morte no Funeral por
esse prisma, francamente preguiçoso, ainda que com certa razão. Um filme de Frank
Oz: se o nome de Oz não desperta muito interesse é porque ele é daquela classe
de cineastas falsamente invisíveis. A engrenagem da trama de Oz faz com que Farrelly,
Apatow e Motolla (outros cineastas de talentosas comédias de 2007) pareçam exibicionistas
sem requebrado. Para ele a cena adquire vida a partir da sinergia quase musical
– orquestral - de elementos evidentemente convencionais (atores, cenário, decupagem
clássica), do que situações truncadas que estampem conceito e estilo, algo que
o distancia do academicismo aparente. Discreto, ele prefere não imprimir assinatura,
mas mantém tudo sobre extremo controle. Nem modista, nem velhista, simplesmente
old school. 18. Viagem
a Darjeeling (The Darjeeling Limited), de Wes Anderson (EUA, 2007)
 Wes
Anderson não aceita ver as coisas na diagonal. A frontalidade dos seus planos
não visa confrontar a retórica dos personagens (como em Spike Lee e Godard), mas
é uma escolha que, de um jeito simples (até óbvio), pretende vê-los de frente,
tirar-lhes as máscaras. Pra Wes Anderson isso é uma questão séria e em Viagem
a Darjeeling ele lança mão novamente desse procedimento que pareceu meio problemático
em A Vida Marinha, mas cristalino em Os Excêntricos Tennenbaums.
Nunca Anderson olhou de tão perto os seus personagens, nunca eles se dispuseram
tanto a se encarar. Se aqui não existe uma cena à altura do suicídio frontal de
Richie Tennenbaum, temos os três irmãos no espelho do banheiro e a “conversa”
com a mãe ao som de Play with Fire dos Rolling Stones. Momentos de silêncio
formidáveis. Wes
Anderson não aceita ver as coisas na diagonal. A frontalidade dos seus planos
não visa confrontar a retórica dos personagens (como em Spike Lee e Godard), mas
é uma escolha que, de um jeito simples (até óbvio), pretende vê-los de frente,
tirar-lhes as máscaras. Pra Wes Anderson isso é uma questão séria e em Viagem
a Darjeeling ele lança mão novamente desse procedimento que pareceu meio problemático
em A Vida Marinha, mas cristalino em Os Excêntricos Tennenbaums.
Nunca Anderson olhou de tão perto os seus personagens, nunca eles se dispuseram
tanto a se encarar. Se aqui não existe uma cena à altura do suicídio frontal de
Richie Tennenbaum, temos os três irmãos no espelho do banheiro e a “conversa”
com a mãe ao som de Play with Fire dos Rolling Stones. Momentos de silêncio
formidáveis. 17. Superbad
- É Hoje (Superbad), de Greg Mottola (EUA, 2007)
Existe
um palavrão em qualquer vocabulário que é compreensivelmente evitado: verdade.
No caso de Superbad é inevitável não tocar nessa palavra, porque nele existe
uma verdade particular dos personagens e das situações. A coisa não soa fake,
não parece um filme adolescente feito por adultos, não tem medo de parecer sexista
e politicamente incorreto. O filme de Motolla, com roteiro de Seth Rogen, é uma
arqueologia da experiência adolescente sobre o prazer e o ilícito. Os únicos adultos
de papel importante em Superbad são dois policiais que acreditam que a
responsabilidade não casa com curtição – e preferem curtir, é claro. E outra:
um personagem cômico como McLovin não surge todos
os dias. 16. Possuídos (Bug), de Willian Friedkin (EUA, 2006)
Os
filmes de Friedkin se encaixam perfeitamente no que Rogério Sganzerla escreveu
sobre o cinema moderno e o “cinema do corpo”, no que diz respeito à fatalidade
como libertação do destino dos personagens, sobre o herói fechado e etc, tendo
Caçado como melhor exemplo disso. Mas existe, uma outra coisa em seu cinema,
sobretudo em Possuídos, que é fazer da cena um exaustivo exercício de crueldade
com a consciência de que ele (o diretor) é responsável por manter a ascese da
fatalidade sob seu controle. Só que Willian Friedkin não é Lars Von Trier e ele
vai até o fim sem distanciamento algum. Por isso, nada mais natural que o diretor
passe agora seu tempo dirigindo mais óperas e menos filmes. 15.
Império dos Sonhos (Inland Empire), de David Lynch (EUA, 2007)
Existem
cineastas com a síndrome de Fellini que são aqueles que depois de um certo
tempo e de uma grande dose de auto-admiração passam a fazer imitações deles mesmos.
David Lynch correu esse perigo em Império dos Sonhos e passou raspando.
Na radicalização de seu último trabalho o cineasta aderiu a uma porção de mecanismos
que pareciam mais uma estratégia de auto-homenagem. Mas entre mortos e feridos,
tivemos uma dos trabalhos mais perturbadores do ano e um convite a uma experiência
sensorial única no cinema contemporâneo. 14.
Conquista da Honra (Flags of Our Fathers), de Clint Eastwood (EUA,
2006)
Eastwood conta a história por meio das brechas. Interessa
pra ele não a história oficial, não a história oculta, mas o que todas essas coisas
querem dizer em suas “dobras”. Não interessa se Conquista da Honra não
acrescenta nada a carreira de seu diretor, assim como os acidentes de percurso
parecem pequenos perto de sua grandeza. O que vale é que mesmo com mais modéstia
ele fala alto e sem dúvida fala das coisas mortas com tanta contundência quanto
Jean-Luc Godard. Um cinema de luto, mas o luto não é capítulo final e nem epílogo.
13. Lady Chatterley
(Lady Chatterley), de Pascale Ferran (Bélgica/França/Inglaterra, 2006)
 Se
Império dos Sonhos estimula uma experiência sensorial, Lady Chatterley
se faz como uma experiência sensível. O amor é um gesto tátil e até fugaz e uma
das maravilhas no seu aspecto dramático é que a inocência é calcada na experiência,
não na estupidez. Uma coisa rara é que a dramaturgia no filme de Ferran não é
uma historinha feita no papel e interpretada pelos atores, ela tem vida na cena,
quando a diretora perscruta o batimento dos corpos de seus personagens. Tudo é
muito vivo, muito generoso, mesmo que, numa atitude inteligente, a diretora mantenha
os dois pés atrás na relação da madame com o peão. Isso também é um ato de amor
radical de Pascale Ferran. Se
Império dos Sonhos estimula uma experiência sensorial, Lady Chatterley
se faz como uma experiência sensível. O amor é um gesto tátil e até fugaz e uma
das maravilhas no seu aspecto dramático é que a inocência é calcada na experiência,
não na estupidez. Uma coisa rara é que a dramaturgia no filme de Ferran não é
uma historinha feita no papel e interpretada pelos atores, ela tem vida na cena,
quando a diretora perscruta o batimento dos corpos de seus personagens. Tudo é
muito vivo, muito generoso, mesmo que, numa atitude inteligente, a diretora mantenha
os dois pés atrás na relação da madame com o peão. Isso também é um ato de amor
radical de Pascale Ferran. 12.
Ligeiramente Grávidos (Knocked Up), de Judd Apatow (EUA, 2007)
Além
de revelar a falência do conceito furado da Frat Pack, Apatow se apóia não só
no carisma de seus atores, mas na violência física e verbal do timing de
sua comédia. É um filme sobre responsabilidade, sem ser careta, é de galera, sem
soar como piada interna. Não se vê hoje filme tão direto como este. A falta de
sutileza é um exercício punk de não deixar nada além da evidência. Corta-se o
duplo sentido, a ingenuidade, a ambiguidade. Fica só o que importa. Mas como estamos
no século XXI, e não na década de 70, mesmo essa grosseria será agridoce. O filme
equilibra, portanto, o escracho e o sentimentalismo, a piada suja e o pedido de
casamento. Uma comédia exemplar, um filme fenomenal. 11.
Em Busca da Vida (Still Life), de Jia Zhang-ke (China, 2006)
Em
Busca da Vida é sentimental, de emoções frustradamente controladas. O drama
de Jia Zhang-ke versa sobre o controle. É um poema sobre a ação do cineasta (e
do homem) sobre as coisas: o absurdo de um elemento de ficção científica em um
contexto realista, a ponte se acendendo e mudando a paisagem, o esqueleto do que
um dia foi um prédio sendo derrubado a marteladas, as imagens internas da habitação
dos operários e o perfeccionismo pontual da presença dos atores em frente à câmera.
O que é aparentemente solto e improvisado se mostra pensado exaustivamente, uma
intervenção analisada – sem ser fria e longe do calculismo. Ao contrário, Em
Busca da Vida é de uma beleza contagiante e desafia qualquer classificação
e leitura confortáveis. 10.
O Homem Duplo (A Scanner Darkly), de Richard Linklater
 De
todos esses filmes que tratam da relativização do ponto de vista hoje, talvez
é este que pense mais o que significa “cena” em um momento que as imagens se chocam
e parecem se bastar sozinhas ou independentes umas das outras. Como disse em minha
crítica para a Cinética, O Homem Duplo vai perguntar se ainda pode haver
qualquer autenticidade na encenação, ou se a encenação se basta por si mesma,
é o sentido de sua própria existência. A técnica de rotoscopia e a quantidade
avassaladora de monitores e circuitos internos propõem indagações: o que essas
intervenções revelam além da sua própria artificialidade? É possível pedir ainda
alguma autenticidade da mentira proposta pelas imagens? O Homem Duplo é
um trabalho sofrido e melancólico por sua condição de ser um ensaio estilhaçado
e limitado sobre as imagens contemporâneas. É uma tentativa de diagnóstico falha
e frustrada, é um trabalho doente de si mesmo, por isso tão fascinante. De
todos esses filmes que tratam da relativização do ponto de vista hoje, talvez
é este que pense mais o que significa “cena” em um momento que as imagens se chocam
e parecem se bastar sozinhas ou independentes umas das outras. Como disse em minha
crítica para a Cinética, O Homem Duplo vai perguntar se ainda pode haver
qualquer autenticidade na encenação, ou se a encenação se basta por si mesma,
é o sentido de sua própria existência. A técnica de rotoscopia e a quantidade
avassaladora de monitores e circuitos internos propõem indagações: o que essas
intervenções revelam além da sua própria artificialidade? É possível pedir ainda
alguma autenticidade da mentira proposta pelas imagens? O Homem Duplo é
um trabalho sofrido e melancólico por sua condição de ser um ensaio estilhaçado
e limitado sobre as imagens contemporâneas. É uma tentativa de diagnóstico falha
e frustrada, é um trabalho doente de si mesmo, por isso tão fascinante. 09.
Zodíaco (Zodiac), de David Fincher (EUA, 2007)
 Até
Zodíaco, um filme assinado por David Fincher era sinônimo de embuste. Via-se
claramente que era um cineasta com certeza do que queria, mas a dúvida era se
ele realmente sabia o que estava fazendo. Até que ele aparece com Zodíaco,
de uma sobriedade e uma precisão conceitual e estilística que seria aprovada por
Don Siegel. Sua cadência narrativa ainda é meio caótica (afinal é Fincher), mas
serve aos nós da trama. É como se o cineasta tivesse lapidado o que lhe interessa
pra encontrar o diamante bruto. A quantidade imensa de personagens e informações
se organizam de modo a ficar em primeiro plano só o que é de extremo interesse,
ao mesmo tempo que todos os elementos que vão se tornando periféricos (personagens
como o de Downey Jr, a família de Gylenhall), não são abandonados e não perdem
a função. O que impressiona é que não dá pra dizer “não parece nem o mesmo diretor”,
porque parece, e é. Fincher é uma lição pra todo cineasta: as boas e as más escolhas
moram no mesmo lugar, cabe ao artista bom senso para optar e saber burilar o material.
É torcer agora para que esta não seja só uma mudança casual. Até
Zodíaco, um filme assinado por David Fincher era sinônimo de embuste. Via-se
claramente que era um cineasta com certeza do que queria, mas a dúvida era se
ele realmente sabia o que estava fazendo. Até que ele aparece com Zodíaco,
de uma sobriedade e uma precisão conceitual e estilística que seria aprovada por
Don Siegel. Sua cadência narrativa ainda é meio caótica (afinal é Fincher), mas
serve aos nós da trama. É como se o cineasta tivesse lapidado o que lhe interessa
pra encontrar o diamante bruto. A quantidade imensa de personagens e informações
se organizam de modo a ficar em primeiro plano só o que é de extremo interesse,
ao mesmo tempo que todos os elementos que vão se tornando periféricos (personagens
como o de Downey Jr, a família de Gylenhall), não são abandonados e não perdem
a função. O que impressiona é que não dá pra dizer “não parece nem o mesmo diretor”,
porque parece, e é. Fincher é uma lição pra todo cineasta: as boas e as más escolhas
moram no mesmo lugar, cabe ao artista bom senso para optar e saber burilar o material.
É torcer agora para que esta não seja só uma mudança casual. 08.
A Comédia do Poder (L’ivresse du Pouvoir), de Claude Chabrol (França/Alemanha,
2006)
 Pode
até parecer obsessão redundante, mas o interessante é que Claude Chabrol, até
hoje, continua realizando suas pesquisas formais e de linguagem que fazia na época
de crítico para a Cahiers Du Cinèma – calcado em Hitchcock e Fritz Lang
– que servem mais como uma referência na utilização do pouco, do discreto (Lang)
e do cineasta de gênero crítico da comédia social (o Hitchcock mais econômico
de A Sombra de uma Dúvida), do que uma homenagem cinéfila. Entre outras
coisas, Chabrol, como sabemos, é o grande cronista dos jogos de poder e A Comédia
do Poder é (junto a Mulheres Diabólicas) seu filme mais abertamente
claro sobre isso. Na história, uma juíza interpretada por Isabelle Hupert investiga
um caso de corrupção entre figurões. Não esqueçamos que o título diz ser uma “comédia”,
só que isso não quer dizer que tudo é feito para a risada desbragada, mas que
sua engrenagem naturalmente terá erros, as coisas não funcionarão como deveriam.
O poder para Chabrol não é burlesco, mas tem dois ingredientes chave para a “comédia”:
a ironia e o ridículo da farsa. Pode
até parecer obsessão redundante, mas o interessante é que Claude Chabrol, até
hoje, continua realizando suas pesquisas formais e de linguagem que fazia na época
de crítico para a Cahiers Du Cinèma – calcado em Hitchcock e Fritz Lang
– que servem mais como uma referência na utilização do pouco, do discreto (Lang)
e do cineasta de gênero crítico da comédia social (o Hitchcock mais econômico
de A Sombra de uma Dúvida), do que uma homenagem cinéfila. Entre outras
coisas, Chabrol, como sabemos, é o grande cronista dos jogos de poder e A Comédia
do Poder é (junto a Mulheres Diabólicas) seu filme mais abertamente
claro sobre isso. Na história, uma juíza interpretada por Isabelle Hupert investiga
um caso de corrupção entre figurões. Não esqueçamos que o título diz ser uma “comédia”,
só que isso não quer dizer que tudo é feito para a risada desbragada, mas que
sua engrenagem naturalmente terá erros, as coisas não funcionarão como deveriam.
O poder para Chabrol não é burlesco, mas tem dois ingredientes chave para a “comédia”:
a ironia e o ridículo da farsa. 07.
Jogo de Cena, de Eduardo Coutinho (Brasil, 2007)
 É
difícil falar de Jogo de Cena sem cair no óbvio ou repetir o que já foi
dito a exaustão. Mas um ponto me parece indispensável: Coutinho realiza uma cartografia
dos sentimentos como nunca antes, o que faz com que um depoimento falso da Andréa
Beltrão contando a história real de uma outra – uma outra que inclusive dá o mesmo
depoimento – recupere na performance da atriz um sentimento muito pessoal por
um lado, e a frustração de não encontrar na própria interpretação alguma verdade
em outro momento. Por isso, o filme parece menos um baile de máscaras e mais a
busca de memórias subterrâneas (sejam elas quais forem) que estimulem a existência
dessas personagens em frente à câmera. É a pergunta de Coutinho: o que faz com
que essas personagens existam efetivamente? O resultado é desconcertante. É
difícil falar de Jogo de Cena sem cair no óbvio ou repetir o que já foi
dito a exaustão. Mas um ponto me parece indispensável: Coutinho realiza uma cartografia
dos sentimentos como nunca antes, o que faz com que um depoimento falso da Andréa
Beltrão contando a história real de uma outra – uma outra que inclusive dá o mesmo
depoimento – recupere na performance da atriz um sentimento muito pessoal por
um lado, e a frustração de não encontrar na própria interpretação alguma verdade
em outro momento. Por isso, o filme parece menos um baile de máscaras e mais a
busca de memórias subterrâneas (sejam elas quais forem) que estimulem a existência
dessas personagens em frente à câmera. É a pergunta de Coutinho: o que faz com
que essas personagens existam efetivamente? O resultado é desconcertante. 06.
O Hospedeiro (The Host), de Bong Joon-ho (Coréia do Sul, 2006)
 Se
já não bastasse O Hospedeiro ser o melhor filme de monstro desde O Enigma
de Outro Mundo, de John Carpenter, de 1982, é ainda um poderoso drama de família
e um comentário político certeiro, que em um primeiro momento pode parecer até
ingênuo. As cenas do monstro perseguindo a multidão em uma planície urbana ao
largo de um rio é o que de melhor a tecnologia do CGI atingiu até hoje: a imagem
do monstro levando a garotinha pro fundo do lago à vista de um impotente pai tem
um grafismo aterrador. É um filme triste, porque toda a movimentação dos pais
– seja ele o patriarca da família ou o tolo Park Gang-du – em salvar os filhos
será frustrada, inclusive a autoridade política estará mais preocupada em escamotear
seus erros e manipular a situação a custa dos cidadãos do que em combater o monstro
que ela mesma criou. O crítico Filipe Furtado disse ser o grande “filme popular”
do ano. Sim, popular porque além de ter como central alguns temas atuais, soma
os gêneros com um resultado sensacional. Se
já não bastasse O Hospedeiro ser o melhor filme de monstro desde O Enigma
de Outro Mundo, de John Carpenter, de 1982, é ainda um poderoso drama de família
e um comentário político certeiro, que em um primeiro momento pode parecer até
ingênuo. As cenas do monstro perseguindo a multidão em uma planície urbana ao
largo de um rio é o que de melhor a tecnologia do CGI atingiu até hoje: a imagem
do monstro levando a garotinha pro fundo do lago à vista de um impotente pai tem
um grafismo aterrador. É um filme triste, porque toda a movimentação dos pais
– seja ele o patriarca da família ou o tolo Park Gang-du – em salvar os filhos
será frustrada, inclusive a autoridade política estará mais preocupada em escamotear
seus erros e manipular a situação a custa dos cidadãos do que em combater o monstro
que ela mesma criou. O crítico Filipe Furtado disse ser o grande “filme popular”
do ano. Sim, popular porque além de ter como central alguns temas atuais, soma
os gêneros com um resultado sensacional. 05.
Planeta Terror (Planet Terror), de Robert Rodriguez (EUA, 2007)
 Existem
muitas coisas que tornam Planeta Terror um filme fascinante. Uma delas
é a capacidade de parecer um filme de gênero velho e modorrento em um momento
em que o imaginário do público tem como sinônimo de horror os torture porn
(Jogos Mortais, O Albergue, Batismo de Sangue) ou o macabro
sobrenatural de raízes orientais. Ao mesmo tempo o filme de Robert Rodriguez é
um experimento fascinante, um ensaio iconográfico de fazer inveja a qualquer trabalho
de por art. Obviamente o filme atrai também um público mais afeito à ironia
com o repertório do filme do que com a adesão ao gênero horror. Só que Planeta
Terror é muito mais do que um bibelô pós-moderno: ele tem a crença de que
uma narrativa é ainda capaz de exercer fascínio e de que a integridade da construção
de um universo imaginário é fundamental para a saúde do cinema, mesmo que esse
universo seja mais uma referência ao que o cinema foi um dia do que uma afirmação
do que ele é hoje. Por isso ele precisa dos riscos na película, da sala de cinema
como simulacro de uma experiência. Antes de ser uma homenagem ao gênero é um filme
de Robert Rodriguez, nada nostálgico e saudoso, mas um filme conceitual, sem o
distanciamento blasé de seu repertório, acreditando, sempre, no seu desejo: ser
um filme de horror vagabundo. Existem
muitas coisas que tornam Planeta Terror um filme fascinante. Uma delas
é a capacidade de parecer um filme de gênero velho e modorrento em um momento
em que o imaginário do público tem como sinônimo de horror os torture porn
(Jogos Mortais, O Albergue, Batismo de Sangue) ou o macabro
sobrenatural de raízes orientais. Ao mesmo tempo o filme de Robert Rodriguez é
um experimento fascinante, um ensaio iconográfico de fazer inveja a qualquer trabalho
de por art. Obviamente o filme atrai também um público mais afeito à ironia
com o repertório do filme do que com a adesão ao gênero horror. Só que Planeta
Terror é muito mais do que um bibelô pós-moderno: ele tem a crença de que
uma narrativa é ainda capaz de exercer fascínio e de que a integridade da construção
de um universo imaginário é fundamental para a saúde do cinema, mesmo que esse
universo seja mais uma referência ao que o cinema foi um dia do que uma afirmação
do que ele é hoje. Por isso ele precisa dos riscos na película, da sala de cinema
como simulacro de uma experiência. Antes de ser uma homenagem ao gênero é um filme
de Robert Rodriguez, nada nostálgico e saudoso, mas um filme conceitual, sem o
distanciamento blasé de seu repertório, acreditando, sempre, no seu desejo: ser
um filme de horror vagabundo. 04.
Cartas de Iwo Jima (Letters from Iwo Jima), de Clint Eastwood (EUA,
2006)
 O
difícil em falar de Eastwood é que parece que tudo de interessante já foi dito
por outros críticos. Seu ponto de vista pra a História, os fantasmas e os vácuos
do passado que o diretor explora, tudo isso temos em Cartas de Iwo Jima.
Mas uma coisa fica, e isso me parece o ato supremo de violência abordado pelo
filme: o suicídio dos kamikazes com tiros e explosão de granadas contra os próprios
corpos, uma ação deliberada que é o que de mais violento ele já filmou. A morte
no cinema do diretor sempre foi vista como algo a ser, inevitavelmente, enfrentada,
pois é ela quem acerta as contas com a vida. O conflito dos soldados é o de acatar
ou não as ordens dos superiores para que se matem. A questão levantada é essa:
a liberdade em morrer é tão preciosa quanto a de viver. É humano, humano demais,
é sobre a resistência (Inácio Araújo diria “a briga do homem com Deus”), e nesse
sentido é filme o mais duro já feito por Clint Eastwood. O
difícil em falar de Eastwood é que parece que tudo de interessante já foi dito
por outros críticos. Seu ponto de vista pra a História, os fantasmas e os vácuos
do passado que o diretor explora, tudo isso temos em Cartas de Iwo Jima.
Mas uma coisa fica, e isso me parece o ato supremo de violência abordado pelo
filme: o suicídio dos kamikazes com tiros e explosão de granadas contra os próprios
corpos, uma ação deliberada que é o que de mais violento ele já filmou. A morte
no cinema do diretor sempre foi vista como algo a ser, inevitavelmente, enfrentada,
pois é ela quem acerta as contas com a vida. O conflito dos soldados é o de acatar
ou não as ordens dos superiores para que se matem. A questão levantada é essa:
a liberdade em morrer é tão preciosa quanto a de viver. É humano, humano demais,
é sobre a resistência (Inácio Araújo diria “a briga do homem com Deus”), e nesse
sentido é filme o mais duro já feito por Clint Eastwood. 03.
Medos Privados em Lugares Públicos (Coeurs), de Alain Resnais (França,
2006)
 É
um filme enorme, não de duração, mas de envergadura. A certeza que fica é que
a idade faz com que alguns cineastas fiquem cada vez mais concisos, e que, com
leveza, consigam extrair dos filmes seus objetivos com uma segura sobriedade.
Medos Privados em Lugares Públicos não é tão simples em suas idéias, mas
tem clareza em seus princípios estéticos: para Resnais aqui, o menos é mais. O
leitor pode se perguntar o porquê de tanto elogio nesse nível pra um filme tão
maravilhado com uma cenografia de plasticidade rebuscada e excessiva. Explico:
se Resnais nos seus primeiros filmes ficou famoso por modular a narrativa (não
fazê-la sumir, como se diz às vezes) a partir de “fluxos temporais” (consciência
de que uma imagem é o desdobramento do tempo), agora ele acredita que as restrições
de uma “cena” – pura e simples – com a ilusão de um tempo que transcorre normalmente,
podem levar às mesmas desorientações internas dos personagens. O desafio foi fazer
um filme que suas formas sejam mais um desafio ao cinema como prática e observação,
do que ao cinema que sirva a labirintos teóricos. É
um filme enorme, não de duração, mas de envergadura. A certeza que fica é que
a idade faz com que alguns cineastas fiquem cada vez mais concisos, e que, com
leveza, consigam extrair dos filmes seus objetivos com uma segura sobriedade.
Medos Privados em Lugares Públicos não é tão simples em suas idéias, mas
tem clareza em seus princípios estéticos: para Resnais aqui, o menos é mais. O
leitor pode se perguntar o porquê de tanto elogio nesse nível pra um filme tão
maravilhado com uma cenografia de plasticidade rebuscada e excessiva. Explico:
se Resnais nos seus primeiros filmes ficou famoso por modular a narrativa (não
fazê-la sumir, como se diz às vezes) a partir de “fluxos temporais” (consciência
de que uma imagem é o desdobramento do tempo), agora ele acredita que as restrições
de uma “cena” – pura e simples – com a ilusão de um tempo que transcorre normalmente,
podem levar às mesmas desorientações internas dos personagens. O desafio foi fazer
um filme que suas formas sejam mais um desafio ao cinema como prática e observação,
do que ao cinema que sirva a labirintos teóricos. 02.
Maria (Mary), de Abel Ferrara (EUA, 2006)
 Falar
em “imagem” hoje pode ser algo um tanto quanto vago. Imagem pode ser tudo (sentidos,
revelações, verdade) como pode ser somente elemento de retórica (mentiras, simulação,
formas). O fato é que o cinema de Abel Ferrara é a busca de uma experiência por
meio das imagens, em um mundo e uma época em que os sentidos se esvaem. As imagens
seriam os únicos testemunhos possíveis, mesmo que pareçam por demais contraditórias
e incompletas como em Blackout e Enigma do Poder, dois de seus melhores
filmes. Maria é sobre isso, é sobre ter a imagem como cristalização de
uma experiência – logo de algo que se acredita, porque se viu e se vivenciou.
Temos a atriz Marie Palese, que interpreta Maria Madalena em um filme do diretor
Tony Childress, a primeira a testemunhar o (absurdo) Cristo ressuscitado. Esse
filme, essas imagens feitas por Childress, estimulam as paixões mais diferentes,
seja dos fundamentalistas que acusam o filme de blasfêmico, seja a atriz Marie
que vive uma experiência mística a partir do seu trabalho no filme, ou apresentador
de TV que entra numa peleja ao vivo com cineasta – e principalmente o próprio
Childress, boicotado e entricheirado em uma cabine, exibindo o filme, transtornado,
para uma sala vazia. Abel Ferrara é o equivalente ao que Samuel Fuller foi no
passado, um cineasta que acredita que ser ordinário e verdadeiro são a mesma coisa,
ou seja: um inimigo de imagens falsas. Falar
em “imagem” hoje pode ser algo um tanto quanto vago. Imagem pode ser tudo (sentidos,
revelações, verdade) como pode ser somente elemento de retórica (mentiras, simulação,
formas). O fato é que o cinema de Abel Ferrara é a busca de uma experiência por
meio das imagens, em um mundo e uma época em que os sentidos se esvaem. As imagens
seriam os únicos testemunhos possíveis, mesmo que pareçam por demais contraditórias
e incompletas como em Blackout e Enigma do Poder, dois de seus melhores
filmes. Maria é sobre isso, é sobre ter a imagem como cristalização de
uma experiência – logo de algo que se acredita, porque se viu e se vivenciou.
Temos a atriz Marie Palese, que interpreta Maria Madalena em um filme do diretor
Tony Childress, a primeira a testemunhar o (absurdo) Cristo ressuscitado. Esse
filme, essas imagens feitas por Childress, estimulam as paixões mais diferentes,
seja dos fundamentalistas que acusam o filme de blasfêmico, seja a atriz Marie
que vive uma experiência mística a partir do seu trabalho no filme, ou apresentador
de TV que entra numa peleja ao vivo com cineasta – e principalmente o próprio
Childress, boicotado e entricheirado em uma cabine, exibindo o filme, transtornado,
para uma sala vazia. Abel Ferrara é o equivalente ao que Samuel Fuller foi no
passado, um cineasta que acredita que ser ordinário e verdadeiro são a mesma coisa,
ou seja: um inimigo de imagens falsas. 01. Os Donos
da Noite (We Own the Night), de James Gray (EUA, 2007);
e
Os Anjos Exterminadores (Les Anges Exterminateurs),
de Jean-Claude Brisseau (França, 2006)
 Enquanto
o filme de Brisseau (ao lado) pode ser visto como um suspense erótico soft-core
(nem tão soft), o de James Gray é um drama policial e familiar. Essa é
a leitura imediata e vulgar, porque partem de temas batidos: o de Brisseau, de
uma história de perdição erótica; o de Gray, uma trama de queda e vingança. Pela
própria proposta, ambos pedem adesão irrestrita, incutem emoções no espectador
– o que para muita gente, não são reações nada nobres, como por exemplo, o tesão
de ver algumas garotas se pegando (satisfação com o voyeurismo) e a torcida
contras os bandidos (satisfação com a vingança). A reação é comum, porque hoje
é natural que se desconfie da imagem que peça imersão (veja-se a polêmica acerca
de Tropa de Elipe), da imagem mimética, é comum também que não haja um
entendimento com a ficção, que considere-se a narrativa como uma convenção capaz
de esgotar as possibilidades do cinema, etc. Em algum aspecto essas posições podem
até possuir certa razão, mas é necessário cautela: pode se “jogar fora a água
da bacia com a criança dentro” – além de que se tornou lugar comum criticar um
filme por ele ser clássico demais, ou se desprezar um outro por ser um thriller,
por exemplo, como se ele não tivesse outras possibilidades além daquelas conferidas
por seu “gênero”. Enquanto
o filme de Brisseau (ao lado) pode ser visto como um suspense erótico soft-core
(nem tão soft), o de James Gray é um drama policial e familiar. Essa é
a leitura imediata e vulgar, porque partem de temas batidos: o de Brisseau, de
uma história de perdição erótica; o de Gray, uma trama de queda e vingança. Pela
própria proposta, ambos pedem adesão irrestrita, incutem emoções no espectador
– o que para muita gente, não são reações nada nobres, como por exemplo, o tesão
de ver algumas garotas se pegando (satisfação com o voyeurismo) e a torcida
contras os bandidos (satisfação com a vingança). A reação é comum, porque hoje
é natural que se desconfie da imagem que peça imersão (veja-se a polêmica acerca
de Tropa de Elipe), da imagem mimética, é comum também que não haja um
entendimento com a ficção, que considere-se a narrativa como uma convenção capaz
de esgotar as possibilidades do cinema, etc. Em algum aspecto essas posições podem
até possuir certa razão, mas é necessário cautela: pode se “jogar fora a água
da bacia com a criança dentro” – além de que se tornou lugar comum criticar um
filme por ele ser clássico demais, ou se desprezar um outro por ser um thriller,
por exemplo, como se ele não tivesse outras possibilidades além daquelas conferidas
por seu “gênero”. O fato é que Os Anjos Exterminadores
e Os Donos da Noite não se permitem ser filmes que propõem um distanciamento
porque eles têm um projeto muito claro: não podem criar uma imagem que proponha
abstração: são contos morais, de queda, e assim, “dar corpo” a essas histórias
torna-se fundamental, acreditar na imagem, na fluidez narrativa como possibilidade
de gerir um universo em que a concretude – do corpo e da capacidade de erigir
um espaço como elemento pictórico-dramático – é o único meio de conferir o absurdo
(da existência) e o escândalo (do mundo) de que necessitam essas histórias. Uma
imagem auto-consciente não seria capaz disso. 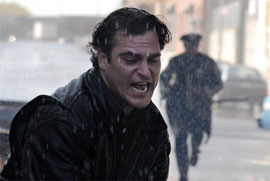 Sendo
assim, o que esses filmes acrescentam ao cinema contemporâneo? É difícil responder,
e talvez nem seja necessário fazê-lo rapidamente. Mas os filmes de Brisseau e
Gray, de modos diferentes, tematizam a “experiência desses olhares” como ato fatalista.
Em Brisseau, a tragédia de um cineasta que, ao mesmo tempo que se entrega a um
olhar, simula distanciamento. Como veremos, o tal distanciamento é uma falácia.
Em Gray (acima), a impossibilidade da omissão de um protagonista que será a testemunha
trágica da curva do próprio destino. São filmes envolventes, descartam uma imagem
que estimule neutralidade por ser solta, relativa, ambígua em sua dicotomia ficção-realidade.
Não podemos dizer que Os Donos da Noite e Os Anjos Exterminadores
engajam, tiram o espectador da passividade, rasgam a tela. Não. São classicistas,
miméticos, mas nada inocentes. Como foi dito sobre o filme de Ferrara (que apesar
das eventuais diferenças, possui a mesma lógica), o olhar aqui é um testemunho.
É buscar um mundo que seja digno de crença e adesão, apesar de tudo. Sendo
assim, o que esses filmes acrescentam ao cinema contemporâneo? É difícil responder,
e talvez nem seja necessário fazê-lo rapidamente. Mas os filmes de Brisseau e
Gray, de modos diferentes, tematizam a “experiência desses olhares” como ato fatalista.
Em Brisseau, a tragédia de um cineasta que, ao mesmo tempo que se entrega a um
olhar, simula distanciamento. Como veremos, o tal distanciamento é uma falácia.
Em Gray (acima), a impossibilidade da omissão de um protagonista que será a testemunha
trágica da curva do próprio destino. São filmes envolventes, descartam uma imagem
que estimule neutralidade por ser solta, relativa, ambígua em sua dicotomia ficção-realidade.
Não podemos dizer que Os Donos da Noite e Os Anjos Exterminadores
engajam, tiram o espectador da passividade, rasgam a tela. Não. São classicistas,
miméticos, mas nada inocentes. Como foi dito sobre o filme de Ferrara (que apesar
das eventuais diferenças, possui a mesma lógica), o olhar aqui é um testemunho.
É buscar um mundo que seja digno de crença e adesão, apesar de tudo.
Janeiro
de 2008
editoria@revistacinetica.com.br
|

