|
sessão cinética
Capitão Achab
(Capitaine Achab),
de Philippe Ramos (França, 2007)
por Juliano Gomes
Viagem
ao princípio do mundo
Narrações: essa é a matéria clara de Capitão
Achab e sobre ela que o longa de Philippe Ramos versa todo
o tempo: o poder de narrar. Para fazer isso, recorre a algumas
das maiores narrativas da história do Ocidente: o “Moby Dick”,
de Herman Melville; o Antigo Testamento (particularmente, Jonas);
e a estrutura da Odisséia, de Homero. Aqui a questão é colocar
o cinema em relação a esta milenar atividade.
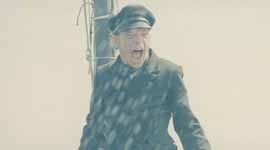 O
vital anacronismo de Ramos já se mostra na sua reafirmação de
tradições. Trata-se de colocá-las para serem percebidas e lhes
dar nova vida na experiência do filme: o cinema mudo, o relato
fantástico, a fábula, a biografia. Coexistem aqui a narração,
e sua ligação direta com a experiência humana de ouvir, de reunir-se
e compartilhar; e, ao mesmo tempo, a materialidade da narração
moderna, factual, do relato objetivo, das grandes descrições,
que vão fundar o romance moderno. Esta estrutura híbrida e anacrônica,
que vai combinar aspereza e doçura, graça e lacuna, flores e sangue,
ossos e pingentes, dá o tom absolutamente singular da obra de
Ramos em relação ao seu tempo. Se é impossível inscrevê-lo num
gênero específico não é por lhe faltar característica de estilo
definido, mas justamente por lhe sobrar. Capitão Achab
é um exercício de plena consciência de tradições demarcadas (e
fundadoras) das artes narrativas do ocidente. Daí a necessidade
de uma temporalidade híbrida e de um tom preciso e demarcado. O
vital anacronismo de Ramos já se mostra na sua reafirmação de
tradições. Trata-se de colocá-las para serem percebidas e lhes
dar nova vida na experiência do filme: o cinema mudo, o relato
fantástico, a fábula, a biografia. Coexistem aqui a narração,
e sua ligação direta com a experiência humana de ouvir, de reunir-se
e compartilhar; e, ao mesmo tempo, a materialidade da narração
moderna, factual, do relato objetivo, das grandes descrições,
que vão fundar o romance moderno. Esta estrutura híbrida e anacrônica,
que vai combinar aspereza e doçura, graça e lacuna, flores e sangue,
ossos e pingentes, dá o tom absolutamente singular da obra de
Ramos em relação ao seu tempo. Se é impossível inscrevê-lo num
gênero específico não é por lhe faltar característica de estilo
definido, mas justamente por lhe sobrar. Capitão Achab
é um exercício de plena consciência de tradições demarcadas (e
fundadoras) das artes narrativas do ocidente. Daí a necessidade
de uma temporalidade híbrida e de um tom preciso e demarcado.
É estabelecido o propósito metalingüístico da
obra já em seu primeiro momento: uma origem; o corpo da mãe morta.
O primeiro elemento de uma série de espelhamentos que o liga até
a baleia. O trajeto de Achab não é outro senão o de encontrar
um lugar onde possa parar, ou recomeçar, isto é: o princípio.
Seu caminho é o movimento, o tempo, sua vida se dá nesse contar,
nessa visão de quem conviveu com ele, de quem viu sua imagem,
e nos dá a ver sua própria visada, que é a morada verdadeira e
natural do personagem. Achab é branco, é tela onde tudo se escreve,
se inscreve. Sua opacidade, absolutamente desprovida de profundidade
psicológica, é o motor para que se possa apropriar dele. O encanto
se espalha para nós espectadores, que não paramos de admirar e
nos projetar também sobre essa figura que metaforiza o próprio
narrar em busca de si mesmo, que encarna uma falta que é própria
da imagem, da palavra, um vazio, uma falta de centro, de “substância
verdadeira”, de coisa, que funciona como uma espécie de força
propulsora, uma gravidade ao contrário, a partir da falta de massa,
que a impele a continuar – como Sherazade, sob o perigo, sob o
desejo, de morte.
 Tal
movimento vai em direção à maior das metáforas: o mar. O ponto-mór
de condensação de sentidos. Sua única possibilidade, seu destino,
trágico, que o herói tem que cumprir. Sua sina, é essa: se apagar.
Mergulhar no fundo onde tudo se dilui. E Ramos, com um trabalho
extraordinário na utilização de luzes naturais, não pára de encenar
sucessivamente aparições e desparições. Tudo se metaforiza mais
do que se sucede em Capitão Achab. Sua
dimensão de transformação predomina sobre a de sucessão. É o tempo
do mito e das musas. Daí suas violentíssimas elipses. Nascimento
e desaparecimento vão tomando diversas formas aqui. As gradações
de luz e sombra, a mínima passagem de uma nuvem que torna a iluminação
da cena vacilante, ganham um caráter épico, sua medida é a do
todo e não do específico, do singular, como parece clamar o tempo
atual. O que urge é exatamente a criação, com todo o peso e leveza
que a palavra carrega. Para criar é preciso, conscientemente ou
não, enfrentar esse grande monstro, que nos desafia, mutila e
ameaça. É no face a face com ele, sobre sua pele, é levado pelo
grande monstro, nessa torrente, que esse nascimento pode se dar. Tal
movimento vai em direção à maior das metáforas: o mar. O ponto-mór
de condensação de sentidos. Sua única possibilidade, seu destino,
trágico, que o herói tem que cumprir. Sua sina, é essa: se apagar.
Mergulhar no fundo onde tudo se dilui. E Ramos, com um trabalho
extraordinário na utilização de luzes naturais, não pára de encenar
sucessivamente aparições e desparições. Tudo se metaforiza mais
do que se sucede em Capitão Achab. Sua
dimensão de transformação predomina sobre a de sucessão. É o tempo
do mito e das musas. Daí suas violentíssimas elipses. Nascimento
e desaparecimento vão tomando diversas formas aqui. As gradações
de luz e sombra, a mínima passagem de uma nuvem que torna a iluminação
da cena vacilante, ganham um caráter épico, sua medida é a do
todo e não do específico, do singular, como parece clamar o tempo
atual. O que urge é exatamente a criação, com todo o peso e leveza
que a palavra carrega. Para criar é preciso, conscientemente ou
não, enfrentar esse grande monstro, que nos desafia, mutila e
ameaça. É no face a face com ele, sobre sua pele, é levado pelo
grande monstro, nessa torrente, que esse nascimento pode se dar.
Tal face a face gera uma rede de espelhamentos
que se espalha pela narrativa se estabelece como estrutura. No
encontro é onde se dá o contar, seja história de pescador, caçador,
padre, dândi ou vagabundo. É justamente neste deparar-se. Achab
é a baleia para quem está ao seu lado. É branco. Da tela, do lençol
esticado, da mãe, onde o sangue pode escorrer, onde a escuridão
há de incidir. Onde a ausência fundadora e propulsora há de imperar.
Branco que é o silêncio e o grito da visão. Luz cintilante que
o protagonista pega nas mãos ao fim de sua jornada, diante de
seu fim, de sua guerra íntima, luz que forma um halo, uterino,
celular, cujo retorno permite a Achab um descanso que nunca lhe
foi permitido, ao findar de sua série. E Dennis Lavant parece
a presença perfeita desse ser carregado de vida e morte, de olhar
determinado, pele marcada, robustez de gesto, e fragilidade de
estatura. Uma imagem que carrega consigo outras, indefinidamente,
que preenche e aumenta as elipses do filme, que dá sangue e carne
ao branco da pele e da tela. E que vai encontrar morada no encanto
do nosso olhar, a cada sutil mudança de luz, a cada nova íris,
nessa cintilação de baleias, sereias, que há milênios não cessa
de nos dar sentido, nesse infinito e sedutor jogo de reciprocidades.
Agosto de 2011
editoria@revistacinetica.com.br |

