|
Entre o maquínico e o alquímico
Cinema
e arte contemporânea - 1a parte
por
André Brasil
1716, de Marcellvs
L.
(Holanda, 2008, 7min12, cor, vídeo)
Encontrar
um vídeo de Marcellvs L. provoca a impressão de que nos deparamos, fortuitamente,
com um pedaço de mundo (impressão apenas inicial, digamos logo, já que os vídeos
são extremamente elaborados, rigorosos). Cada videorizoma – assim o artista
costuma chamar suas obras – aparece como um fragmento, um segmento heterogêneo
e descontínuo arrancado de uma multiplicidade. Mas, o que faz do segmento uma
pequena totalidade – uma totalidade aberta, vale dizer – é a duração. Algo dura,
algo se defasa, algo se destaca, se individua. Algo muda na duração, dura na mudança.
Interromper a imagem, cortá-la, nesse caso, é menos demarcar um espaço de representação
do que arrancar o acontecimento do mundo, mantendo nesse “naco” sua multiplicidade
e sua intensidade. Não há nenhum naturalismo ingênuo nessa constatação, já que,
sabemos, trata-se sempre de uma construção, de uma intervenção. Em
1716, novamente. Como um pedaço arrancado ao mundo, o novo vídeo de Marcellvs
nos faz acompanhar o acontecimento em sua emergência. Iniciada abruptamente –
como se alguém acabasse de ligar a câmera – a imagem nos mostra uma tempestade.
A cena é esboçada, de tom impressionista, algo intensificado pelo zoom
digital. A força do vento que atravessa a imagem a torna instável, acirra o caráter
indicial, eventual, da tomada. Ao longe, um rochedo no mar recebe ondas cada vez
mais violentas. A imagem das ondas sobre o rochedo se prolonga nos fazendo, espectadores,
contemplar uma paisagem marítima transtornada. O áudio – o vento de encontro à
câmera – é mais e mais alto, ruidoso, incômodo ao espectador. 
Em
seu caráter emergencial, o videorizoma guarda uma inusitada semelhança com as
imagens em direto das catástrofes – as tempestades, os furacões, as enchentes
– que a TV não cansa de nos mostrar. O mesmo distanciamento, a mesma urgência,
a mesma instabilidade, o mesmo aspecto “amador”. Essa semelhança logo se desfaz
quando, imersos na duração, nos vemos em um espaço sensível, um espaço intensivo.
Em seu interior, forças se modulam, se afetam, atravessam umas às outras: as ondas
contra as pedras, o vento contra a câmera, as linhas dos objetos que oscilam,
que estremecem tensionadas fisicamente pela força do vento e da tempestade. Se,
na maioria das vezes, os telejornais organizam, editam as imagens, capitalizando
suas intensidades em um discurso de caráter sensacionalista ou dramático, em 1716,
a duração preserva o caráter, ao mesmo tempo, concentrado, intensivo, aberto e
enigmático do acontecimento. Passados alguns minutos do
início do vídeo, alguém surge na tela, sua figura apenas sugerida, indefinível
pela distância da câmera. Sobre o rochedo, contempla a natureza, confronta sua
virulência (o gesto nos traz a lembrança, talvez excessivamente distante, algo
arbitrária, do estudante chinês diante dos tanques na Praça da Paz Celestial (Tiananmen)).
Pouco a pouco, a figura se aproxima da extremidade da pedra, onde as ondas estouram
fortemente, vez ou outra, desaparecendo por trás dos jorros d’água. 
Se
não se trata estritamente de uma representação é porque ali a imagem é,
antes, um espaço de intensidades, ela é um acontecimento. A partir da entrada
do sujeito em cena, uma narrativa – certo suspense – se esboça, mas ela não é
o mais importante para o espectador, agora imerso em um cruzamento de linhas de
força, de enfrentamentos, de volumes, luminâncias e oscilações. Não se trata stricto
sensu de um personagem, a não ser que o pensemos em seu caráter pré-subjetivo,
pré-individual: menos um sujeito, do que uma configuração de afecções e transtornos.
Um sujeito se insinua, uma paisagem se esboça, um acontecimento emerge. A imagem
se faz dessa configuração eventual, ela apenas se desprende, se descola do acontecimento,
para então ser cortada. Transtornada pelas intensidades do que acontece, ela se
interrompe, como se a câmera não mais suportasse – fisicamente – a força e a virulência
da tempestade.
Proto-tide, de Thiago Rocha Pitta
(RJ,
2008, 18 min, cor, vídeo) Se, em 1716, a paisagem
é um transtorno, em Proto-tide, de Thiago Rocha Pitta, ela é arruinamento,
apagamento: vai aos poucos desmoronando, deixando-se ruir, se consumir pelo ir
e vir das ondas. Como em outros filmes do artista (Homenagem a JMW Turner,
Fonte Dupla ou Paisagem Cozida e Herança), trata-se de uma intervenção
no domínio da natureza, da qual o autor se ausenta deixando que a obra se transforme
ao sabor do tempo: a montanha de brasa em uma praia vai sendo apagada e arruinada
lentamente pelo movimento das ondas. O filme, que tem os planos cada vez mais
fechados, nos faz acompanhar, ao longo de 18 minutos, essa lenta alquimia, essa
gradual extinção. O áudio participa do processo, pontuado pelo som das brasas
se apagando em contato com o mar. 
Também
em Proto-tide, a imagem é um acontecimento e, à medida em que dura, vai
se alterando lentamente, até que – em uma espécie de mantra – nos faz contemplar
um espaço intensivo, denso, de duração espessa, como a água misturada às cinzas
do braseiro. A intervenção do artista começa antes do filme propriamente dito,
na medida em que alguém constrói a montanha de brasas para que ela seja consumida
pelo movimento do mar, alguém que não vemos e cuja ação nos é incerta, não nos
é revelada. Feita a intervenção, a obra ganha – em alguns aspectos – também uma
dimensão pré-subjetiva: algo acontece, materiais diferentes entram em contato,
se contaminam, se queimam e se apagam, mas o que acontece respeita uma ordem e
uma temporalidade naturais, digamos, cósmicas. Há o filme – as imagens capturadas,
enquadradas, montadas – mas, pouco a pouco, ele vai sendo tomado pelas forças
da natureza, pela mistura da água com o fogo. Há o filme, mas ele se consome pelo
ir e vir do tempo, como a brasa pelo ir e vir do mar. Neste trabalho de Rocha
Pitta – lembremos a expressão de Didi-Huberman em outro contexto – a imagem queima
com o real.
Buraco Negro (série B), de Cinthia Marcelle
e Tiago Mata Machado
(MG, 2008 4min41, p&b, vídeo) Puro
artifício, Buraco Negro, de Cinthia Marcelle e Tiago Mata Machado (que
pode ser visto aqui), não deixa também de nos remeter
a um movimento de dimensão cósmica: matéria e não-matéria, a luz e sua ausência,
massas em metamorfose. A estratégia é tão simples quanto bela: sobre um quadro
negro, partículas de pó branco são deslocadas pelo sopro de duas pessoas que não
vemos. Em intensidades diferentes, estabelecem um diálogo sem palavras, criando
formas que mudam aleatoriamente sobre a tela. O vídeo parte de uma performance,
da qual o espectador acompanha, na tela, apenas os efeitos. A natureza transtornada
de 1716 e a lenta alquimia de Proto-tide se transformam aqui em
uma paisagem sensível matizada, dialógica, sutil, despretensiosa.
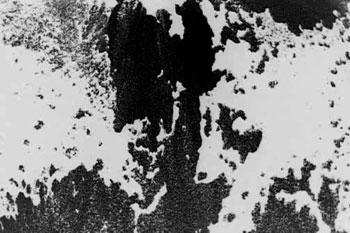
De
forma distinta das outras duas obras, estamos ainda em um espaço intensivo que,
a partir da performance – uma brincadeira – nos permite atravessar escalas diferentes:
do pó de giz sobre o quadro negro ao relevo de uma região gelada, deste ao movimento
das galáxias; da pintura ao cinema e do cinema ao quasi-cinema (como não
nos lembrar das fotos de Hélio Oiticica e Neville d’Almeida em uma de suas Cosmococas?);
da brincadeira de criança aos afetos e às relações amorosas. Mas, o artifício
de Buraco Negro – a mudança de escala que ele provoca – não nos levará
necessariamente à metáfora, sua lógica não é principalmente metafórica. Por meio
dele, nos mantemos ainda, no domínio físico, concreto, da configuração plástica
das partículas sobre a tela, sem que o pensamento se desprenda totalmente do jogo
sensível das formas
. Fe(i)tichesEstes
são pequenos filmes produzidos recentemente por artistas brasileiros, que nos
levam à fronteira entre um e outro domínio, a arte contemporânea e o cinema. Na
oscilação entre o espaço expositivo e a sala de projeção, produzem certo desconcerto,
certa inadequação em relação ao nosso lugar de espectadores. Eles nos levam a
perguntar: o que as artes plásticas ensinam ao cinema? Nada do que ele não soubesse
desde o início. Mas esse diálogo que atravessa a história – das vanguardas e neo-vanguardas
às composições mais recentes – é uma forma, dentre outras, de nos lembrar do acontecimento
que, em suas intensidades e afecções, tensiona o discurso cinematográfico, provoca
seu transtorno, seu arruinamento, sua transfiguração. Há
outra lição que se pode derivar daí: os acontecimentos são seres híbridos, eles
são constructos, artifícios, são feitos por nós, mas, em sua dimensão sobrenatural
e sobre-humana, têm o poder de nos ultrapassar. Como acontecimento que é, a imagem
cinematográfica é fetiche. Ou, para recorrer à corruptela de Bruno Latour,
ela é, antes, fe(i)tiche, ao mesmo tempo, feito e feitiço: ao filmar uma
tempestade, a câmera constrói o evento que filma. Mas, nesse mesmo momento, é
atravessada fisicamente por sua força, que a faz oscilar até a pane; a maré sobe,
apagando lentamente as brasas. Mas, essa ação do tempo sobre o fogo só foi possível
por causa de uma intervenção anterior, um artifício arquitetado pelo artista;
a performance faz deslocar partículas de pó branco sobre a superfície negra e
os desenhos que vão se criando nos permitem passar de uma a outra escala de acontecimentos.
Fe(i)tiches: o que ali se constrói, o que é natural? O que é fato, o que é feitiço,
encantamento? A imagem nos faz passar de um registro a outro, em uma prática,
uma experiência. Nela, o artifício se deixa atravessar pelo real, transtornado,
queimado, transfigurado por ele. Aqueles que lidam com os
fe(i)tiches, com estes acontecimentos a um só tempo construídos e sobrenaturais/sobre-humanos,
sabem-se sujeitos da imagem na mesma medida em que se sabem por ela inevitavelmente
superados. Ao aproximar, mais uma vez, o cinema e as artes plásticas, eis o que
estes filmes sublinham, cada qual à sua maneira: o caráter alquímico – tanto quanto
maquínico – do fazer cinematográfico, sua vocação em criar estes acontecimentos
a um só tempo artificiais, naturais, sobrenaturais.
N.
do R.: Devo várias ideias deste texto às discussões com João Dumans e Eduardo
de Jesus, durante a produção da curadoria “Campo Imperfeito”, parte do 11o
Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte. Ver o ensaio “Notas
sobre um campo imperfeito”. Março de 2010 editoria@revistacinetica.com.br
|

