edição especial curtas brasileiros
2009
A song about killing
your parents
por Eduardo Valente
Manassés,
de Luisa Marques (Ceará/Rio de Janeiro, 2009)
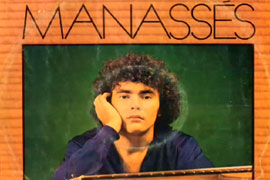 Quase
precisamente na metade de Manassés há um plano de uma mão que toca um coração
que pulsa, numa cena roubada de alguma cirurgia cardíaca. A imagem deste verdadeiro
“peito aberto” que se deixa encostar por uma outra pessoa é a que mais se aproxima
do sentimento que temos ao ver o filme de Luisa Marques, um filme onde o termo
“filmes em primeira pessoa” parece finalmente ganhar um sentido definitivo para
além de termos uma câmera sendo manuseada pelo próprio realizador, uma narração
em off ou um assunto que diga respeito à vida pessoal de quem faz o filme. De
fato, nada em Manassés indica que aquelas pessoas que surgem em cena são
relacionadas com a diretora. É fato, aqueles que conhecem Luisa pessoalmente (como
é o meu caso) a reconhecem na primeira sequência de imagens do filme, e podem
a partir daí fazer todo tipo de suposições sobre os relacionamentos que surgem
em cena. Mas saber disso não me parece que seja central ao “entendimento” do filme
(especialmente se pensamos o termo para além dos sentidos relacionados tanto à
racionalidade como em especial à questão de desenvolvimento de uma narrativa).
Porque mesmo sabendo que aquela pessoa é Luisa, não há nada no filme que afirme
com todas as letras que aquele ao seu lado é o pai dela, nem que a menina que
surge mais adiante é uma irmã mais nova de uma outra relação. No entanto, tudo
isso está no filme, para além de qualquer dúvida, como emoção, como operação cinematográfica
de peito aberto.  Neste
sentido, é curioso ver como a linguagem usada pelo filme para mostrar quão pessoal
ele de fato é, é a da dissonância. Pois tão dissonantes como são os acordes de
Sonic Youth e Smashing Pumpkins com as imagens de um já quase velho violeiro nordestino,
numa sequência cheia de fusões de imagens, são também dissonantes os sentimentos
que perpassam o filme todo, e que o fazem soar tão próximos de todos nós – e só
por isso o percebemos tão próximo da sua instância realizadora (não por acaso
os créditos finais, para além de listar as músicas, consta apenas de um “de Luisa
Marques”). No filme, cada imagem caseira de um pai que toca seu violão ou de uma
criança que brinca parece tão angustiante como a entrada de um objeto cirúrgico
num corpo ou tão angustiada quanto um show de noise rock. Neste
sentido, é curioso ver como a linguagem usada pelo filme para mostrar quão pessoal
ele de fato é, é a da dissonância. Pois tão dissonantes como são os acordes de
Sonic Youth e Smashing Pumpkins com as imagens de um já quase velho violeiro nordestino,
numa sequência cheia de fusões de imagens, são também dissonantes os sentimentos
que perpassam o filme todo, e que o fazem soar tão próximos de todos nós – e só
por isso o percebemos tão próximo da sua instância realizadora (não por acaso
os créditos finais, para além de listar as músicas, consta apenas de um “de Luisa
Marques”). No filme, cada imagem caseira de um pai que toca seu violão ou de uma
criança que brinca parece tão angustiante como a entrada de um objeto cirúrgico
num corpo ou tão angustiada quanto um show de noise rock.
 O
motivo para este sentimento dissonante que perpassa o filme, pressentimos, advém
do fato destas imagens caseiras não possuírem um só significado também para quem
as colhe e coloca “em ordem” (expressão que parece particularmente inadequada
para falar da montagem de Manassés, que é questão de tudo, menos de ordem).
Isso fica especialmente claro em tudo que se refere à menina, cuja intimidade
com a câmera indica um enorme carinho entre quem filma e quem é filmado, mas cuja
maneira de ser colocada no filme a faz simultaneamente assumir o papel de espelho,
de fantasma, de monstro quase – além de criança querida. No corpo daquela filha
que não foi deixada de lado (e a única frase contextualizadora do filme fala num
pai que vai embora), vemos a projeção de um desejo, de uma curiosidade, de uma
inveja, de uma admiração de quem filma. O
motivo para este sentimento dissonante que perpassa o filme, pressentimos, advém
do fato destas imagens caseiras não possuírem um só significado também para quem
as colhe e coloca “em ordem” (expressão que parece particularmente inadequada
para falar da montagem de Manassés, que é questão de tudo, menos de ordem).
Isso fica especialmente claro em tudo que se refere à menina, cuja intimidade
com a câmera indica um enorme carinho entre quem filma e quem é filmado, mas cuja
maneira de ser colocada no filme a faz simultaneamente assumir o papel de espelho,
de fantasma, de monstro quase – além de criança querida. No corpo daquela filha
que não foi deixada de lado (e a única frase contextualizadora do filme fala num
pai que vai embora), vemos a projeção de um desejo, de uma curiosidade, de uma
inveja, de uma admiração de quem filma.
 Que
tudo isso seja sentido a partir de apenas um par de cenas, de uma série de planos,
é o grande mistério e a grande beleza de Manassés. Um filme que fala muito
sem dizer nada, e que usa dos elementos de um found cinema com uma simplicidade
que só poderia mesmo esconder toda a complexidade de sentimentos que emanam da
tela. E que podem ser todos resumidos naquele longo plano inicial, de um pai que
toca seu violão na rede frente ao olhar de uma menina adulta que está sentada
ao pé dele, numa relação de composição imagética extremamente precisa ao mesmo
tempo que cheia de espontaneidade. Há um filme inteiro ali, naquela troca de olhares
e sorrisos desconfiados, verdadeiros e melancólicos ao mesmo tempo. Mas que Luisa
ouse não se ater à facilidade deste “pedaço de real” tão forte e denso, e monte
a partir dele um discurso audiovisual tão contraditório e sem medo quanto Manassés,
com todos os riscos (pessoais e artísticos) envolvidos neste ato, faz do filme
um dos gestos de cinema mais potentes que vimos em algum tempo. Que
tudo isso seja sentido a partir de apenas um par de cenas, de uma série de planos,
é o grande mistério e a grande beleza de Manassés. Um filme que fala muito
sem dizer nada, e que usa dos elementos de um found cinema com uma simplicidade
que só poderia mesmo esconder toda a complexidade de sentimentos que emanam da
tela. E que podem ser todos resumidos naquele longo plano inicial, de um pai que
toca seu violão na rede frente ao olhar de uma menina adulta que está sentada
ao pé dele, numa relação de composição imagética extremamente precisa ao mesmo
tempo que cheia de espontaneidade. Há um filme inteiro ali, naquela troca de olhares
e sorrisos desconfiados, verdadeiros e melancólicos ao mesmo tempo. Mas que Luisa
ouse não se ater à facilidade deste “pedaço de real” tão forte e denso, e monte
a partir dele um discurso audiovisual tão contraditório e sem medo quanto Manassés,
com todos os riscos (pessoais e artísticos) envolvidos neste ato, faz do filme
um dos gestos de cinema mais potentes que vimos em algum tempo.
Março
de 2010
editoria@revistacinetica.com.br
|

