|
in loco - II festival de paulínia
Dia
2: Importância alguma
por Francis Vogner
dos Reis
Há
aqueles momentos em que o cinema é tão digno de crença que
alguns filmes ruins são passíveis de reflexão acurada. Nesse
caso, independentemente dos estímulos do crítico, o tal filme ruim
faz apostas, se lança ao desconhecido e se dedica ao material de tal forma
que os problemas graves não deixam de ser uma provocação
ao espectador e ao chamado gosto médio, sobretudo o gosto médio
da crítica, o território mais acomodado no "meio termo"
e no "bom senso" (traduzindo: falta de critério), no que esses
termos têm de mais covardes e oficiais.
O fato
é que no cinema brasileiro atual não há esses maus filmes.
Há filmes importantes. Todo maldito filme tem a sua "importância",
seja junto ao público, seja junto à necessidade de ter filmes ousados
que colocam questões e que "pensam". A importância, que
se diga, não é questão de virtude em nenhum caso: é
uma categoria que induz à obrigação. Esse é o discurso
oficial que pode vir tanto da Ancine quanto de um blog que não possui nenhum
leitor. O fato é que quase não há filmes importantes ou meramente
relevantes. Peço perdão ao leitor a quantidade de aspas (e o texto
terá mais). É que alguns termos são tão aviltados
que é impossível usá-los sem colocá-los em perspectiva,
porque se assim não fizer (pelo menos no caso desse limitado escriba),
é possível que qualquer frase ou idéia seja compreendida
no registro oficialesco e de pretensa celebração da diversidade.
O texto trai, a linguagem é limitada. No caso dos
filmes vistos até agora em Paulínia é fácil entender
a importância da escolha de alguns filmes, a importância subjacente
a essa escolha e a importância em se falar desses filmes. Em qualquer um
desses casos, o cinema sai perdendo. Se levarmos em conta o segundo dia de programação
do II Festival de Paulínia, torna-se desanimador e desestimulante pensar
sobre os filmes, simplesmente porque eles próprios se eximem da função,
simulando criar uma reflexão. Reflexão esta, claro, descolada do
filme, que subjaz ao filme e que permanece fora do filme. O fato é que
vimos na noite de ontem dois longas e dois curtas que se utilizam de expedientes
pitorescos para criar seus efeitos, seja de reflexão, seja de poesia. Muitos
procedimentos dos filmes não almejam absolutamente nada, e em alguns casos,
são arquitetados calculadamente com fins desonestos, mas que querem soar
espirituosos e afetivos. A vontade é não escrever
sobre nenhum deles por uma questão moral. Delegar importância a eles
é entrar no jogo de filmes que não merecem atenção
alguma. Desculpem a franqueza, mas dedicar tempo e nervos a nulidades estéticas
é se dar conta que a tragédia de um cinema que anda a passos curtos
é dar olhos e ouvidos a filmes que não representam absolutamente
nada. Mas como vim ao festival para entender o painel de filmes brasileiros configurado
nesse festival de muitas intenções e nenhum conceito (como muitos
outros Brasil afora), como representante da Revista Cinética e como bom
cristão que não consigo ser, vou traçar brevemente o perfil
de cada um dos filmes.
Dois goles de cianureto
Os
curtas Vida Vertiginosa, de Luis Carlos Lacerda, e Morte Corporation,
de Léo del Castillo, só seriam simplórios, se não
fosse o naif e falta total de algum critério que norteie as suas
escolhas. Todas as escolhas. Quando um filme chama a atenção por
seu desastre formal, não conseguindo assim atingir qualquer resultado além
e apesar disso, cabe somente falar do que ele não consegue falar. Vida
Vertiginosa é baseado em personagem e conto do escritor da belle
époque carioca João do Rio. O problema do filme o atravessa
nas mais diferentes camadas e não é só um problema do projeto,
mas de uma escrita cinematográfica mínima. É um filme com
intenções formalistas: depende da montagem, da decupagem e das composições
para poder ter alguma vida, pois é nisso que ele se ancora. Acontece que
uma boa montagem não é possível, porque não existe
decupagem que faça sentido e composições que construam um
espaço cênico necessário apesar de haver uma intenção
clara e óbvia em encenar situações em alguns espaços.
Seu decór declara que é um filme de inaptidão e supérfluo.
Triste situação de Luis Carlos Lacerda: ele é hoje o cineasta
que melhor (ou pior) condensa todas as deficiências de uma "estirpe"
de cineastas brasileiros como Paulo Thiago e Sergio Rezende. É tão
primário que chamá-lo de acadêmico seria elogio.  Se
Morte Corporation, de Léo Del Castillo, consegue ser melhor do que
o curta de Lacerda é porque ele se aplica com maior destreza ao seu material
(homem encontra a morte), o que, em hipótese alguma, o exime de ser pequeno
em espírito. O curta sofre do mal de muitas produções pequenas
que têm à mão alguns equipamentos de cinema como dolly, gruas
e etc. Usa-se qualquer recurso à mão - indiscriminadamente - para
se filmar um diálogo, como na primeira cena em que os dois personagens
conversam e a câmera se desloca sideradamente de um lado para outro. Não
há método e nem um procedimento mínimo que seja consciente
nesse filme. Já seria pouco se essa consciência de procedimentos
apelasse para os clichês nos enunciados que o valor de um mero plano pode
gerar. Se
Morte Corporation, de Léo Del Castillo, consegue ser melhor do que
o curta de Lacerda é porque ele se aplica com maior destreza ao seu material
(homem encontra a morte), o que, em hipótese alguma, o exime de ser pequeno
em espírito. O curta sofre do mal de muitas produções pequenas
que têm à mão alguns equipamentos de cinema como dolly, gruas
e etc. Usa-se qualquer recurso à mão - indiscriminadamente - para
se filmar um diálogo, como na primeira cena em que os dois personagens
conversam e a câmera se desloca sideradamente de um lado para outro. Não
há método e nem um procedimento mínimo que seja consciente
nesse filme. Já seria pouco se essa consciência de procedimentos
apelasse para os clichês nos enunciados que o valor de um mero plano pode
gerar.
O baixo pitoresco e a fábula picaresca
O
tom é do pitoresco em Caro Francis e do picaresco em O Contador
de Histórias. Definições neutras, é verdade, mas
que se potencializam como pejorativas nas escolhas conscientes de ambos os filmes.
Essa é a diferença entre os longas e os curtas da noite, pois os
curtas nem chegam a ser primários.  O
Contador de Histórias parte de algo interessante: um garoto que fabula
sua própria história e dessa maneira forja para si uma dignidade
que o mundo à sua volta (literalmente uma fábrica de marginais)
lhe nega. Se ele foi um marginal fabricado pela miséria e pelo Estado (sem
confusão nem separação), há a possibilidade de se
fabricar um cidadão. A lógica, mesmo que desafiadora, é justa
e necessária no mundo em que vivemos. Mas, infelizmente, um filme - objeto
limitado por uma duração, por escolhas dramáticas e por um
olhar específico - tem a tendência em fazer das coisas mais bonitas
uma busca por soluções imediatas e por destinos derradeiros, incorrendo,
não raro, no rebaixamento de seus temas e em um humanismo infantil e em
um falseamento atroz de questões sérias. O
Contador de Histórias parte de algo interessante: um garoto que fabula
sua própria história e dessa maneira forja para si uma dignidade
que o mundo à sua volta (literalmente uma fábrica de marginais)
lhe nega. Se ele foi um marginal fabricado pela miséria e pelo Estado (sem
confusão nem separação), há a possibilidade de se
fabricar um cidadão. A lógica, mesmo que desafiadora, é justa
e necessária no mundo em que vivemos. Mas, infelizmente, um filme - objeto
limitado por uma duração, por escolhas dramáticas e por um
olhar específico - tem a tendência em fazer das coisas mais bonitas
uma busca por soluções imediatas e por destinos derradeiros, incorrendo,
não raro, no rebaixamento de seus temas e em um humanismo infantil e em
um falseamento atroz de questões sérias.
A
seqüência que faz contraste entre Roberto e o outro menino de rua apelidado
de "cabelinho de fogo" (que invade a casa da pedagoga) é abjeta
porque contrapõe o que acaba, por fim, considerando decência e barbárie.
É o modo que a certa altura o cineasta usa para distinguir dois estados
do garoto. Do que é visto como barbárie, é preciso manter
distância. E isso, se torna mais grave ainda quando Roberto está
na fila do estádio e vê a polícia revistar quem entra. Ele
fica com medo, mas ao passar pelos guardas se sente muito bem em não ser
mais uma ameaça, e passa variadas vezes pelos gambés. É quase
uma promoção: ele se integrou.  Luiz
Villaça fez seu melhor filme (e inclusive, até agora, o melhor filme
do festival), mas isso diz pouco para um cineasta que tem um currículo
de longas nada invejáveis. A sensibilidade é constantemente sabotada
por um mecanismo perverso: o que em princípio parece a luta para um garoto
se livrar da miséria e tomar seu destino nas mãos, se torna o exercício
de enquadrar e domesticar o menino Roberto Carlos, transformá-lo em cidadão
limpo e respeitável. Deixa a fábula picaresca para se transformar
em conto de fadas. E que não se venha dizer que é baseado em fatos
reais, porque a vida conta mais com a opacidade das coisas do que respostas categóricas.
O Contador de Histórias está longe da vida e distante do
potencial que a ficção tem em questioná-la. Luiz
Villaça fez seu melhor filme (e inclusive, até agora, o melhor filme
do festival), mas isso diz pouco para um cineasta que tem um currículo
de longas nada invejáveis. A sensibilidade é constantemente sabotada
por um mecanismo perverso: o que em princípio parece a luta para um garoto
se livrar da miséria e tomar seu destino nas mãos, se torna o exercício
de enquadrar e domesticar o menino Roberto Carlos, transformá-lo em cidadão
limpo e respeitável. Deixa a fábula picaresca para se transformar
em conto de fadas. E que não se venha dizer que é baseado em fatos
reais, porque a vida conta mais com a opacidade das coisas do que respostas categóricas.
O Contador de Histórias está longe da vida e distante do
potencial que a ficção tem em questioná-la.
Já
o filme de Nelson Hoineff busca a qualquer custo (ou melhor, às custas
de Paulo Francis) procedimentos que gerem efeitos amplificados das características
que tornavam Paulo Francis um personagem, sobretudo. Antes da sessão, Hoineff
disse que seu filme visava fazer um painel das "várias faces de Paulo
Francis". Ora, pra dizer que Paulo Francis tinha várias faces só
mesmo um relato pessoal de quem conviveu com ele. No filme, só vale se
estiver na tela. A imagem que nós, público e leitores, tínhamos
dele era uma só: um personagem que se autocriou.  Na
TV, ele era performático e nos seus últimos anos dava algum sentido
à confraria de idiotas chamada Manhattan Connection, porque sempre aderiu
à performance como único meio de não se conciliar com as
impressões mais ralas e superficiais das coisas, seja à esquerda
ou à direita. Intempestivo como personagem, exagerava nas tintas e era
muitas vezes incoerente - o que, sabemos, faz parte do mito, mas não o
exime de nada. Esse é o Paulo Francis personagem, aquele que, não
raro, víamos metido em situações um pouco mais sérias
do que ele mesmo imaginava ou queria. Entretanto, é no paradoxo de Francis
que Hoineff realiza sua estética da chacota e, maquiavelicamente, faz desse
mesmo paradoxo do personagem, uma contradição pitoresca. O diretor
trata de esgotá-lo e transformar seus entrevistados - entusiastas ou desafetos
de Paulo Francis - em bodes expiatórios a serviço da legitimação
do polemista Francis. Na
TV, ele era performático e nos seus últimos anos dava algum sentido
à confraria de idiotas chamada Manhattan Connection, porque sempre aderiu
à performance como único meio de não se conciliar com as
impressões mais ralas e superficiais das coisas, seja à esquerda
ou à direita. Intempestivo como personagem, exagerava nas tintas e era
muitas vezes incoerente - o que, sabemos, faz parte do mito, mas não o
exime de nada. Esse é o Paulo Francis personagem, aquele que, não
raro, víamos metido em situações um pouco mais sérias
do que ele mesmo imaginava ou queria. Entretanto, é no paradoxo de Francis
que Hoineff realiza sua estética da chacota e, maquiavelicamente, faz desse
mesmo paradoxo do personagem, uma contradição pitoresca. O diretor
trata de esgotá-lo e transformar seus entrevistados - entusiastas ou desafetos
de Paulo Francis - em bodes expiatórios a serviço da legitimação
do polemista Francis.
Nelson Hoineff, amigo do homem, decidiu
fazer um retrato dele a partir de depoimentos de conhecidos e imagens de arquivo.
É nas somas de imagens de arquivo de Paulo Francis, na cadência entre
seqüências de tons diferentes, nas oposições entre entrevistas
e no dado emotivo das lembranças dos entrevistados que o diretor constrói
(palavra ausente no debate celebratório aqui em Paulínia) uma peça
que se exime de abrir mão de possibilidades (e fazer escolhas) que não
tenham um efeito instantâneo. 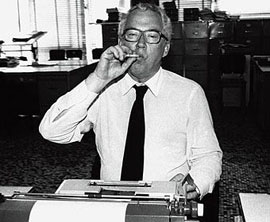 É
questão, portanto, de observar as operações. A oposição
entre as entrevistas de Diogo Mainardi (anão polemista, suposto herdeiro
de Francis) e Caio Túlio Costa (motivo de saída de Francis da Folha),
transforma esse segundo em um simplório patético perante a acidez
do interlocutor (Mainardi) que Hoineff criou na montagem. Assim como na entrevista
com Sergio Augusto, em que o seu cachorro no canto do sofá (e do plano)
fica deitado de barriga pra cima. O diretor faz do jornalista Sergio Augusto coadjuvante
do cachorro, desviando a atenção da entrevista (que em princípio
seria o interesse da cena) para uma oportuna gracinha consciente do diretor. O
que isso tem a ver com Paulo Francis? Nada, absolutamente nada. É
questão, portanto, de observar as operações. A oposição
entre as entrevistas de Diogo Mainardi (anão polemista, suposto herdeiro
de Francis) e Caio Túlio Costa (motivo de saída de Francis da Folha),
transforma esse segundo em um simplório patético perante a acidez
do interlocutor (Mainardi) que Hoineff criou na montagem. Assim como na entrevista
com Sergio Augusto, em que o seu cachorro no canto do sofá (e do plano)
fica deitado de barriga pra cima. O diretor faz do jornalista Sergio Augusto coadjuvante
do cachorro, desviando a atenção da entrevista (que em princípio
seria o interesse da cena) para uma oportuna gracinha consciente do diretor. O
que isso tem a ver com Paulo Francis? Nada, absolutamente nada.
Transformar
o pitoresco - não só de Paulo Francis, mas de qualquer imagem que
dispôs como princípio norteador do documentário - é
não ir além da superfície dessas imagens, é abrir
mão de qualquer responsabilidade que elas em si trazem. Não é
questão de usar a moral corrente para se falar do filme (declarar simplesmente
que isso pode e aquilo não pode, que isso ou aquilo é imoral ou
antiético por si só), mas pedir que haja ao menos um valor sobre
o qual o cineasta trabalhe e que revele o limite que o cinema tem. Todo grande
filme - sem exceção - é uma reflexão sobre seus limites,
sobre o limite do cinema, uma arte (e uma técnica) em que não se
pode e nem se consegue fazer tudo. Tendo isso, Caro Francis está
longe de ser um filme ao menos medíocre. É torpe.
Julho
de 2009
editoria@revistacinetica.com.br
|

