|
ensaios
Meia noite sem Paris
O cinema de catálogo
de Woody Allen
por Cléber Eduardo
 Woody
Allen, diria Didi Mocó, é o da poltrona. Seja
quando filma sua Manhattan, seja quando filma Paris, não
se interessa pelo espaço das cidades, mas apenas pelos
clichês de seu próprio olhar, direcionados para os
clichês dos olhares do senso comum sobre esses espaços
urbanos. Um cineasta que, com a câmera na rua, nos
restaurantes ou nos apartamentos, filma de seu quarto. Porque
em sua rua, em vez da pulsação e da diversidade
de dois centros urbanos do mundo, só há o Seu olhar.
Um autor se constrói, principalmente, na relação
com o que olha, não com a imposição de sua
visão. Esse outro autor, mais que auteur, é
aut-(or)-ista. Pode ser o que muitos procuram, pelo menos com
o que muitos se satisfazem, mas partamos desse princípio,
o da procura e da satisfação, porque nele residem
os princípios das diferenças, se não em relação
a toda uma forma de perceber o cinema, certamente de se relacionar
com o Allen dos espaços de Manhattan (a cidade e não
só o filme) e Paris. Woody
Allen, diria Didi Mocó, é o da poltrona. Seja
quando filma sua Manhattan, seja quando filma Paris, não
se interessa pelo espaço das cidades, mas apenas pelos
clichês de seu próprio olhar, direcionados para os
clichês dos olhares do senso comum sobre esses espaços
urbanos. Um cineasta que, com a câmera na rua, nos
restaurantes ou nos apartamentos, filma de seu quarto. Porque
em sua rua, em vez da pulsação e da diversidade
de dois centros urbanos do mundo, só há o Seu olhar.
Um autor se constrói, principalmente, na relação
com o que olha, não com a imposição de sua
visão. Esse outro autor, mais que auteur, é
aut-(or)-ista. Pode ser o que muitos procuram, pelo menos com
o que muitos se satisfazem, mas partamos desse princípio,
o da procura e da satisfação, porque nele residem
os princípios das diferenças, se não em relação
a toda uma forma de perceber o cinema, certamente de se relacionar
com o Allen dos espaços de Manhattan (a cidade e não
só o filme) e Paris.
Meia Noite em Paris, antes de ser amarrado pelo cordão
umbilical a Manhattan, é semeado por A Era
do Rádio, que é também um olhar de manual
histórico, também banhado em uma doce melancolia
apenas para afirmar uma posição positiva sobre a
vida (apesar das faltas fundadoras dos mundos subjetivos). Meia
Noite em Paris é, antes de tudo, um filme centrado
na falta (e não apenas nas ausências do protagonista).
O filme não ocupa os espaços, ignora Paris como
corpo, como personalidade, como organismo,  para
olhar dela o museu dos mitos, no caso o dos mitos artísticos
aos quais o protagonista se agarra, a ponto mesmo de se juntar
a eles em uma vivência paralela e noturna, soma de Rosa
Púrpura do Cairo com sonhos eróticos, um e
outros marcados pelo mesmo pior momento: o de acordar. Não
há nada fora do sonho e do fetiche, que se tornam escapes
para a frustração de ser americano pragmático
do século XXI (casado com uma militante do consumismo
vulgar com casa em Malibu) e não um artista francês
dos anos 1920, cuja amante é dotada de poderes artísticos
e temperamento tumultuado. O protagonista quer a farra dos artistas
e ser altamente considerado. Quer ser artista pelas razões
menos relacionadas com o ato da criação. para
olhar dela o museu dos mitos, no caso o dos mitos artísticos
aos quais o protagonista se agarra, a ponto mesmo de se juntar
a eles em uma vivência paralela e noturna, soma de Rosa
Púrpura do Cairo com sonhos eróticos, um e
outros marcados pelo mesmo pior momento: o de acordar. Não
há nada fora do sonho e do fetiche, que se tornam escapes
para a frustração de ser americano pragmático
do século XXI (casado com uma militante do consumismo
vulgar com casa em Malibu) e não um artista francês
dos anos 1920, cuja amante é dotada de poderes artísticos
e temperamento tumultuado. O protagonista quer a farra dos artistas
e ser altamente considerado. Quer ser artista pelas razões
menos relacionadas com o ato da criação.
Se é para encararmos apenas como comédia para a
elite cultural ordinária (não especialistas, talvez
também não amadores, mas consumidores apenas), o
posicionamento central é o da percepção mais
sensível: após os primeiros minutos de contatos
ariscos com um americano pedante e sabichão sobre os bastidores
históricos das celebridades de Paris (quem pegou quem)
e o primeiro momento de contato noturno com as imagens fantasmas
dos artistas dos anos 20, todo o restante tem efeito de um andar
em carrossel com cinto de segurança. Repetitivo, previsível,
dado a enjôos. Quem curte o programa talvez se realize pela
lógica do pertencimento a uma rede de referências
em comum com o artista Allen, mais ou menos como os consumidores
e amadores do pop mais industrializado ri com intensidade performática
quando reconhece uma cena parodiada em alguma comédia com
espírito de deboche cinéfilo. Pertencimento
e reconhecimento (das imagens, de sua cultura, de seu repertório).
Talvez parte dos espectadores nutra parte de seu necessário
prazer de pertencimento com a familiaridade em relação
aos artistas-personagens, sem necessariamente ser afetada
por suas artes, sem necessariamente ter contato com suas criações.
 Portanto,
voltemos aos princípios, ao princípio, ao principal.
Assim como existe o autor e o aut-(or)-ista, existe ainda a arte
e o artista. E Allen, como princípio, é artista.
E está interessado neles, nos artistas, na mitologia, na
simbolização, nos clichês dos olhares para
suas imagens e de suas obras. A arte propriamente dita, para a
visão de Allen, só interessa como matéria-prima
a partir da qual se fabula, se organiza discursos, se absorve
o que resta delas para o campo da cultura, dos mitos e dos fetiches;
para os museus, mausoléus e imaginários cultivados
pela consciência, pelas diluições e pelas
vulgarizações dos encantamentos. Allen se relaciona
com a vida como leitor de reportagens de comportamento de semanários
generalistas e se coloca em espaço público como
leitor de guia dos pontos turísticos de viagens ao modo
CVC. Curiosamente, no clipe com esses pontos CVC (cada qual com
dois segundos), não há salas de cinema, sequer livrarias
pensadas como tais, como espaços, não apenas como
ponto de venda. Só importa o triunfo da arquitetura sem
a pulsação de suas formas de ocupação
em trânsito. Só importa o que está à
venda (para o uso do clichê), para o que já se consome
como souvenir do imaginário. Portanto,
voltemos aos princípios, ao princípio, ao principal.
Assim como existe o autor e o aut-(or)-ista, existe ainda a arte
e o artista. E Allen, como princípio, é artista.
E está interessado neles, nos artistas, na mitologia, na
simbolização, nos clichês dos olhares para
suas imagens e de suas obras. A arte propriamente dita, para a
visão de Allen, só interessa como matéria-prima
a partir da qual se fabula, se organiza discursos, se absorve
o que resta delas para o campo da cultura, dos mitos e dos fetiches;
para os museus, mausoléus e imaginários cultivados
pela consciência, pelas diluições e pelas
vulgarizações dos encantamentos. Allen se relaciona
com a vida como leitor de reportagens de comportamento de semanários
generalistas e se coloca em espaço público como
leitor de guia dos pontos turísticos de viagens ao modo
CVC. Curiosamente, no clipe com esses pontos CVC (cada qual com
dois segundos), não há salas de cinema, sequer livrarias
pensadas como tais, como espaços, não apenas como
ponto de venda. Só importa o triunfo da arquitetura sem
a pulsação de suas formas de ocupação
em trânsito. Só importa o que está à
venda (para o uso do clichê), para o que já se consome
como souvenir do imaginário.
Uma mesma forma de se relacionar com a arte (pelos artistas) e
com uma cidade (apenas por suas formas estáticas, não
por suas formas moventes, essas sim formas estéticas). Essa
forma de Meia Noite em Paris é 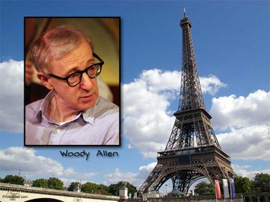 de
fato uma noite pela metade, não jornadas pela madrugada,
mas coloca a Paris da contemporaneidade (essa de uma lógica
propagandeada pelo filme ao final: viva seu tempo) fora de quadro.
Ruas oníricas e vazias nas noturnas. Ambientes interiores
da alta classe nas diurnas.É um filme construído
sobre os cordões de isolamento entre a câmera, seus
atores e a cidade ausente no filme, apenas homenageada como espaço
de fantasmas. Paris é o que falta. Allen, mesmo fora do
elenco, é o que sobra. Esse encapsulamento do olhar parece
progredir no período durante o qual tem filmado em cidades
e com dinheiro de outros países. Ao internacionalizar seus
enquadramentos, evidenciou seu olhar caipira e deslumbrado com
o cosmopolistismo de fechada, que procura transformar em humor
essa posição, mas agora sem um mínimo da
corrosividade do olhar para os modelos novaiorquinos da elite
cultural de Nova York. O turista, quando em Manhattan, pelo menos,
era mais atento, pois estava mais próximo. O de Paris,
assim como o de Barcelona (Vicky Cristina Barcelona),
assim como o dos ambientes britânicos (Match Point),
está emparedado. Poderia ter filmado de seu notebook na
cama de algum hotel no Quartier Latin, a navegar por sites sobre
a biografia sexual e afetiva de seus artistas preferidos. de
fato uma noite pela metade, não jornadas pela madrugada,
mas coloca a Paris da contemporaneidade (essa de uma lógica
propagandeada pelo filme ao final: viva seu tempo) fora de quadro.
Ruas oníricas e vazias nas noturnas. Ambientes interiores
da alta classe nas diurnas.É um filme construído
sobre os cordões de isolamento entre a câmera, seus
atores e a cidade ausente no filme, apenas homenageada como espaço
de fantasmas. Paris é o que falta. Allen, mesmo fora do
elenco, é o que sobra. Esse encapsulamento do olhar parece
progredir no período durante o qual tem filmado em cidades
e com dinheiro de outros países. Ao internacionalizar seus
enquadramentos, evidenciou seu olhar caipira e deslumbrado com
o cosmopolistismo de fechada, que procura transformar em humor
essa posição, mas agora sem um mínimo da
corrosividade do olhar para os modelos novaiorquinos da elite
cultural de Nova York. O turista, quando em Manhattan, pelo menos,
era mais atento, pois estava mais próximo. O de Paris,
assim como o de Barcelona (Vicky Cristina Barcelona),
assim como o dos ambientes britânicos (Match Point),
está emparedado. Poderia ter filmado de seu notebook na
cama de algum hotel no Quartier Latin, a navegar por sites sobre
a biografia sexual e afetiva de seus artistas preferidos.
É questão de aceitar ou não, de ser afetado
na sensibilidade ou não, de ver no cinema apenas uma forma
de não percebermos o peso do tempo e da experiência
cotidiana, ou a possibilidade de uma relação com
o mundo, menos ou mais simbolizada, mas ainda uma relação
entre o olhar e o que está sendo olhado, não
apenas entre o olhar e aquele que olha.
Pode não ser uma condensação dos piores momentos
de Allen, mas é provavelmente os dos piores de Owen Wilson,
não por sua responsabilidade completa. Ele torna apática
a empatia e o deslumbramento de um adulto infantilizado em sua
relação com a arte, que a trata como brinquedinho,
que adentra a seu mundo como quem joga um videogame e nele quer
morar e, quando desalojado, cai na real em um ponte sobre o Sena,
deserta, co-habitada apenas por uma força do acaso (do
roteiro) em forma de jovem disponível para o encontro.
É um filme para crianças, em amplo aspecto, mas
para crianças pouco inocentes, sem abertura para o desconhecido,
apenas para o que se pode reconhecer (mesmo à distância,
mesmo de forma terceirizada, essa experiência Wikipedia),
que entendem de alguma forma o pragmatismo das sensações,
que se regozijam por decodificar os códigos, que se satisfazem
por estarem inscritas no mundo da alta cultura (de baixo nível
de experiência com a arte).
Agosto de 2011
editoria@revistacinetica.com.br |

